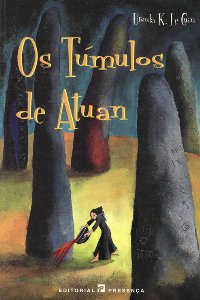
Ursula K. Le Guin
Os Túmulos de Atuan
Para a cabeça ruiva de Telluride

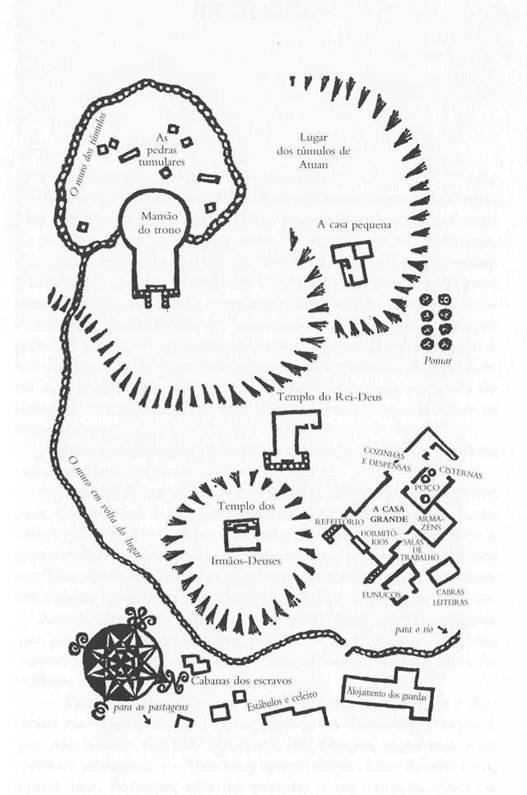
PRÓLOGO
— Vem para casa, Tenar! Vem para casa!
No profundo vale, à luz do crepúsculo, as macieiras estavam prestes a florir. Aqui e além, por entre os ramos cobertos de sombra, uma flor abrira antes de tempo, rosada e branca, como uma estrela indistinta. Ao longo das áleas do pomar, sobre a erva nova, espessa e molhada, a garotinha corria pelo puro prazer da corrida. Tendo ouvido o chamado, não regressou imediatamente, descrevendo um largo círculo antes de ficar de frente para a casa. A mãe que a esperava na entrada da cabana, com a luz do fogo a brilhar por trás, olhava o vulto minúsculo que corria e se movia para cima e para baixo, como uma partícula de lanugem de cardo soprada por sobre a erva escurecida e sob as árvores.
Junto a uma esquina da cabana, raspando a terra que cobria uma enxada o pai disse:
— Porque deixas que o teu coração se apegue à criança? Vêm para a levar para longe no próximo mês. Para sempre. Tanto valerá enterrá-la e acabar com tudo. De que serve agarrar-se a gente a alguém que estamos condenados a perder? Ela não nos traz bem nenhum. Ainda se pagassem quando a levarem, sempre era alguma coisa. Mas não vão fazer isso. Levam-na e acabou-se.
A mãe não pronunciou uma palavra, observando a criança que parara a olhar para cima, por entre as árvores. Acima dos montes que se erguiam para lá dos pomares, a estrela da tarde brilhava com penetrante nitidez.
— Ela não é nossa, nunca o foi desde que eles vieram e disseram que tinha de ser a Sacerdotisa, nos Túmulos. Porque é que não há de ver isso? — A voz do homem soava rouca de revolta e amargura. — Tens mais quatro filhos. Esses ficarão aqui, aquela não. Portanto, não lhe prendas o teu coração. Deixa-a partir!
— Quando chegar a altura — respondeu a mulher —, eu deixo-a partir.
Inclinou-se para receber a criança que vinha a correr com os seus pequenos pés, brancos e descalços, pelo chão lamacento e ergueu-a nos braços. Ao voltar-se para entrar na cabana, baixou a cabeça e beijou o cabelo da criança, que era negro. Mas, à luz trêmula, do lume da lareira, o dela era claro.
O homem deixou-se ficar ainda lá fora, com os pés nus e frios no solo, o céu claro da Primavera a escurecer por cima dele. No lusco-fusco, o seu rosto estava cheio de dor, uma dor baça, pesada, raivosa, que ele nunca teria palavras para traduzir. Por fim, encolheu os ombros e seguiu a mulher para dentro da sala iluminada pelo fogo, vibrante de vozes infantis.
1. A DEVORADA
Uma trompa trilou uma nota aguda e cessou. O silêncio que se lhe seguiu foi quebrado apenas pelo som de muitos passos caminhando ao compasso de um tambor cujo rufar suave tinha o ritmo de um bater de coração. Através das rachas no teto da Mansão do Trono, fendas entre colunas onde toda uma seção de alvenaria e telhas caíra, entrava, oblíqua e vacilante, a luz do dia. Passara uma hora desde o nascer do Sol. O ar estava parado e frio. Folhas mortas de ervas daninhas que tinham aberto caminho por entre os ladrilhos de mármore do pavimento, contornadas pela geada, estalavam ao prenderem-se nas longas túnicas negras das sacerdotisas.
Vieram avançando, quatro a quatro, pelo vasto salão e entre duas filas de duplas colunas. O tambor soava monotonamente. Não havia voz que falasse, olhar que observasse. Archotes trazidos por raparigas de vestes negras ardiam rubros sob os raios de sol, com maior brilho no escuro entre eles. Lá fora, nos degraus da Mansão do Trono, permaneciam os homens: guardas, trompeteiros, tambores. Para dentro das grandes portas só tinham entrado mulheres, vestidas de escuro e encapuçadas, caminhando lentamente em filas de quatro na direção do trono vazio.
Duas se destacaram, mulheres altas, agigantando-se ainda mais nas suas vestes negras, uma delas magra e rígida, a outra corpulenta, oscilando a cada passo que dava. Entre estas caminhava uma criança com cerca de seis anos. Envergava uma camiseta branca, direita. Cabeça, braços e pernas estavam nus e trazia os pés descalços. Parecia extremamente pequena. Ao fundo dos degraus que levavam ao trono, onde as outras esperavam agora em fileiras sombrias, as duas mulheres detiveram-se. Depois impeliram ligeiramente a criança para diante.
O trono, na sua alta plataforma, parecia ter cortinas de ambos os lados, com as grandes teias de negrume tombando da escuridão do teto. Se se tratava realmente de cortinas, ou apenas de sombras mais espessas, não conseguiam os olhos assegurar-se. O próprio trono era negro, com um brilho baço de pedras preciosas ou ouro nos braços e no espaldar, e era muito grande. Um homem que nele se sentasse iria parecer pequeno, por contraste. As suas dimensões não eram humanas. Estava vago. Nada o ocupava, a não ser sombras.
Sozinha, a criança subiu quatro dos sete degraus de um mármore raiado de vermelho. Eram tão largos e altos que ela tinha de colocar ambos os pés num deles antes de tentar subir o seguinte. No degrau do meio, diretamente em frente do trono, erguia-se um grande e tosco bloco de madeira, escavado em redondo no cimo. A criança pôs-se de joelhos e introduziu a cabeça no cavado, rodando-a ligeiramente para um lado. Ali ficou ajoelhada, sem se mover.
Uma figura envergando uma roupa cintada de lã branca destacou-se subitamente de entre as sombras à direita do trono e desceu os degraus, dirigindo-se para a criança. Trazia o rosto oculto por uma máscara branca. Tinha uma espada de aço polido, de um metro e meio de comprido. Sem uma palavra ou uma hesitação, ergueu a espada, segura em ambas as mãos, num movimento circular até ficar por cima do pescoço da garotinha. O tambor parou de rufar.
Ao mesmo tempo que a lâmina alcançava o ponto mais alto da sua trajetória e ali se imobilizava, uma figura de negro lançou-se do lado esquerdo do trono, saltou de degrau em degrau e imobilizou os braços do sacrificante com braços mais esguios. O gume afiado da espada, suspensa no ar, rebrilhou. E assim as duas figuras, a branca e a negra, ambas sem rosto, permaneceram equilibradas por um momento, como bailarinos, por sobre a criança imóvel, cujo cabelo negro, posto para um lado, deixava ver a brancura do pescoço.
Em silêncio, cada uma das figuras se desviou para o lado e voltou a subir os degraus, desaparecendo no escuro por trás do enorme trono. Uma sacerdotisa adiantou-se e entornou um líquido de uma tigela nos degraus, junto à criança ajoelhada. Na escassa luz da sala, a mancha parecia negra.
A criança ergueu-se e desceu à custo os quatro degraus. Chegada ao fundo, as duas sacerdotisas altas vestiram-lhe uma túnica e um manto com capuz, ambos negros, e tornaram a voltá-la de frente para os degraus, a mancha escura, o trono.
— Oh, possam Aqueles-que-não-têm-Nome baixar o seu olhar sobre a criança que lhes é oferecida, que é em verdade a que nasceu para sempre sem nome. Que aceitem a sua vida e os anos da sua vida até à sua morte, que a eles pertence também. Que a achem aceitável. Que seja devorada!
Outras vozes, estrídulas e ásperas como trombetas, replicaram:
— Vai ser devorada! Vai ser devorada!
Ereta, a garotinha olhava, de dentro do seu negro capuz, o trono lá em cima. As pedras preciosas incrustadas nos grandes braços terminando em garras e no espaldar estavam cobertas por uma espessa camada de pó e no próprio espaldar havia teias de aranha e manchas esbranquiçadas dos dejetos dos mochos. Na zona diretamente em frente do trono, os três degraus mais altos, acima daquele onde ela se ajoelhara, nunca tinham sido pisados por pés mortais. Sobre eles, a poeira era tão espessa que mais pareciam um declive de terra cinzenta, com a superfície do mármore raiado de vermelho totalmente oculta pelo joeirar constante, que nada perturbara nem pisara, ao longo de sabe-se lá quantos anos, quantos séculos.
— Vai ser devorada! Vai ser devorada!
Abruptamente, o tambor voltou a rufar, agora num ritmo mais rápido.
Silenciosa, arrastando os pés, a procissão formou-se de novo e afastou-se do trono, para leste, em direção ao quadrilátero luminoso e distante da entrada. De cada lado, as espessas colunas geminadas, como as barrigas de imensas e pálidas pernas, erguiam-se para a zona escura abaixo do teto. Entre as sacerdotisas, agora toda de negro como elas, caminhava a criança, os seus pequenos pés nus deslocando-se solenemente sobre as ervas geladas, as geladas pedras. E quando a luz do sol, enviando os seus raios através do teto em ruínas, lhe iluminava o caminho, não olhava para cima.
Guardas mantinham as portas abertas de par em par. A negra procissão saiu para a luz e o vento, escassos e frios, do princípio da manhã. O sol ofuscava, vogando acima da vastidão oriental. Para ocidente, as montanhas recebiam a sua luz dourada, e bem assim a fachada da Mansão do Trono. Os outros edifícios, mais abaixo na encosta, estavam ainda mergulhados numa sombra purpúrea, exceção feita ao Templo dos Irmãos-Deuses, do outro lado do caminho, sobre um pequeno Cabeço. O seu telhado, recentemente dourado, refletia gloriosamente a luz do dia. A linha negra de sacerdotisas, a quatro e quatro, desceu o serpenteante caminho da Colina dos Túmulos e, enquanto caminhavam, começaram a cantar suavemente. A melodia consistia em três notas apenas e a palavra, constantemente repetida, era tão antiga que se perdera o seu significado, como um poste indicador ainda de pé, desaparecida já a estrada. Uma e outra vez entoavam as sacerdotisas a mesma palavra. Todo aquele dia do Refazer da Sacerdotisa se enchia com o cantar murmurado de vozes de mulher, como um zumbido seco e incessante.
A garotinha foi conduzida de sala em sala, de templo em templo. Num lugar colocaram-lhe sal na língua. Num outro ajoelhou-se voltada para ocidente, enquanto lhe cortavam o cabelo curto e o lavavam com óleo e vinagre perfumado. Noutro ainda ficou deitada sobre uma laje de mármore negro, atrás de um altar, enquanto vozes agudas cantavam uma lamentação pelos mortos. Nem ela nem qualquer das sacerdotisas tomou alimento ou bebeu água em todo aquele dia. Quando a estrela da tarde desapareceu no horizonte, a garotinha foi deitada numa cama, nua entre cobertas de pele de ovelha, num quarto onde nunca antes dormira. Era numa casa que estivera fechada durante anos e fora aberta apenas nesse dia. O quarto era mais alto do que largo e não tinha janelas. Havia nele um cheiro, a morte, parado e sediço. As mulheres, silenciosas, deixaram-na no escuro.
Permaneceu quieta, exatamente como a tinham deixado. Tinha os olhos muito abertos. Quedou-se assim durante longo tempo.
Viu tremular uma luz na alta parede. Alguém avançava silenciosamente ao longo do corredor, protegendo uma vela de junco de tal modo que esta não dava mais luz que um vaga-lume. Ouviu-se um sussurro rouco:
— Ei, estás aí, Tenar?
A criança não respondeu.
Uma cabeça surgiu na entrada, uma estranha cabeça, sem um cabelo, como uma batata pelada, e da mesma cor amarelento. Os olhos eram como olhos de batata, castanhos e mínimos. O nariz parecia pequeno entre as grandes e achatadas superfícies das faces, e a boca era uma fenda sem lábios. Imóvel, a criança fitou aquele rosto. Os seus olhos eram grandes, escuros e fixos.
— Oh, Tenar, meu favinho de mel, aqui estás tu!
A voz era rouca, aguda como a de uma mulher mas não a voz de uma mulher.
— Eu não devia estar aqui, bem sei. O meu lugar é fora da porta, no átrio, é aí que fico. Mas tinha de ver como estava a minha pequena Tenar, depois de um dia tão comprido, hã? Como está o meu pobre favinho de mel?
Aproximou-se mais da criança, um vulto corpulento e silencioso, e estendeu a mão como para lhe alisar o cabelo.
— Eu já não sou Tenar — disse a criança, levantando os olhos para ele. A mão imobilizou-se. Não lhe tocou.
— Não — anuiu ele, após um momento, num murmúrio. — Eu sei. Eu sei. Agora és a pequena Devorada. Mas eu…
Ela nada disse.
— Foi um dia difícil para alguém tão pequeno como tu — disse o homem, movendo nervosamente os pés, a tênue luz a tremular na sua grande mão amarelada.
— Tu não devias estar nesta Casa, Manane.
— Não. Não. Bem sei. Não devia estar nesta Casa. Bom, boa noite, pequenina… Boa noite.
A criança nada disse. Manane voltou costas lentamente e afastou-se. O tênue brilho desvaneceu-se das altas paredes da cela. A garotinha que deixara de ter qualquer nome a não ser Arha, a Devorada, permaneceu deitada de costas, os olhos firmemente fitos na escuridão.
2. O MURO EM VOLTA DO LUGAR
Ao crescer, perdeu todas as recordações de sua mãe, sem saber que as perdera. Era ali que pertencia, ao Lugar dos Túmulos. Sempre ali pertencera. Só de quando em quando, nas longas tardes de Julho, ao observar as montanhas a ocidente, secas e fulvas como um leão na luz restante do crepúsculo, lhe acontecia pensar num fogo que ardera numa lareira, havia muito tempo, com a mesma clara luz amarela. E com essa, vinha também a lembrança de ser abraçada, o que era estranho, pois ela quase nunca era sequer tocada. E a recordação de um aroma agradável, a fragrância de cabelo acabado de lavar e passado por água aromatizada com salva, de longos cabelos louros, da cor do crepúsculo e da luz do lume. Era tudo o que lhe restara.
Sabia mais que o que recordava, claro, pois lhe fora contada toda a história. Quando tinha sete ou oito anos e pela primeira vez começou a perguntar-se quem na verdade seria essa pessoa chamada «Arha», fora ter com o seu guardião, o Vigilante Manane, e dissera:
— Conta-me como fui escolhida, Manane.
— Ora, já sabes tudo isso, pequenina.
E assim era. A sacerdotisa Thar, alta e de voz seca, contara-lhe até ela saber as palavras de cor. Recitou-as.
— Sim, eu sei. Ao morrer a Única Sacerdotisa dos Túmulos de Atuan, as cerimônias de enterro e purificação são completadas dentro do mês seguinte, segundo o calendário lunar. Depois disso, certas Sacerdotisas e Vigilantes do Lugar dos Túmulos são enviados através do deserto, pelas vilas e aldeias de Atuan a perguntar e procurar. Buscam a criança do sexo feminino que nasceu na noite em que morreu a Sacerdotisa. Quando encontram essa criança, esperam e observam. A criança tem de ser sã de corpo e de espírito e, ao crescer, não pode padecer de raquitismo, nem de bexigas, nem ter qualquer deformidade, nem vir a cegar. Se chegar sem mácula à idade de cinco anos, saber-se-á então que o corpo da criança é na verdade o novo corpo da Sacerdotisa que morreu. E a criança é dada a conhecer ao Rei-Deus em Áuabath, trazida aqui para o Templo que é dela e instruída durante um ano. E no fim desse ano é levada à Mansão do Trono e o seu nome é entregue de volta àqueles que são os seus Senhores, Aqueles-que-não-têm-Nome. Pois ela é a que não tem nome, a Sacerdotisa Sempre Renascida.
Isto era, palavra por palavra, o que Thar lhe dissera e ela nunca se atrevera a pedir uma sílaba mais que fosse. A sacerdotisa magra não era cruel, mas era muito fria e vivia segundo uma lei férrea, de modo que Arha a temia. Mas não temia Manane, longe disso, e era capaz de lhe dar ordens.
— E agora conta-me como eu fui escolhida! E ele voltava a contar-lhe.
— Partimos daqui, na direção entre norte e ocidente, no terceiro dia do encher da Lua. Porque a Arha-que-foi tinha morrido no terceiro dia da última Lua. E primeiro fomos até Tenacbá, que é uma grande cidade, embora aqueles que já viram ambas digam que, comparada com Áuabath, é como uma pulga para uma vaca. Mas para mim é grande que chegue. Deve haver dez centenas de casas em Tenacbá. E seguimos depois para Gar. Mas ninguém nessas cidades tivera uma rapariga que lhe nascesse no terceiro dia da Lua, um mês antes. Havia alguns que tinham tido rapazes, mas os rapazes não servem… Assim, fomos até à região montanhosa para norte de Gar, a percorrer as vilas e aldeias. É a minha região. Nasci ali, naqueles montes, onde os rios correm e a terra é verde. Não neste deserto.
A voz áspera de Manane adquiria uma sonoridade estranha sempre que dizia aquilo e os seus olhos pequeninos ocultavam-se totalmente nas pregas das pálpebras. Fazia uma pausa e só depois prosseguia.
— E assim descobrimos todos aqueles que tinham tido filhos nascidos nos últimos meses e com todos falamos. E alguns mentiam-nos, dizendo: «Oh, sim, claro que a nossa menina nasceu no terceiro dia da Lua!» Porque, sabes, para a gente pobre convém sempre ver-se livre das filhas. E havia outros que eram tão pobres, vivendo em choupanas isoladas nos vales altos das montanhas, que não mantinham a conta dos dias e mal sabiam como determinar o mudar do tempo, de modo que não tinham bem a certeza da idade dos bebês. Porém, desde que os interrogássemos o tempo suficiente, conseguíamos sempre chegar à verdade. Só que era um trabalho moroso. Por fim, encontramos uma menina numa aldeia com umas dez casas, nos vales de pomares para ocidente de Entat. Oito meses tinha já a criança, tão longa fora a nossa busca. Mas nascera na noite em que a Sacerdotisa dos Túmulos tinha morrido, e dentro da própria hora da morte. E que bela criança era, sentada muito direita nos joelhos da mãe e a mirar-nos a todos com olhos muito brilhantes, enquanto nos apinhávamos na única divisão da casa, como morcegos numa gruta! O pai era um pobre homem. Cuidava das macieiras no pomar do homem rico do lugar e de seu nada tinha para além de cinco crianças e uma cabra. Nem sequer a casa era dele. Ali estávamos, pois todos em monte e era fácil de ver pelo modo como as sacerdotisas olhavam para a bebê e falavam entre elas que acreditavam ter encontrado finalmente a Sempre Renascida. E isso também a mãe via. Segurava a criança nos braços sem dizer palavra. Bom, portanto voltamos no dia seguinte. E não queres lá ver? A bebezinha dos olhos brilhantes estava deitada num berço de junco, a chorar e a gritar, cheia de vergões e borbulhagem vermelha, de febre, e a mãe a bradar ainda mais alto que a criança: «Ai! Ai! A minha menina foi tocada pelos Dedos-da-Bruxa!» Foi assim que lhe chamou, mas queria dizer as bexigas. Também na minha aldeia lhe chamavam Dedos-da-Bruxa. Mas Kossil, aquela que é agora a Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus, foi direita ao berço e pegou na menina. Todos os outros tinham recuado e eu com eles. Não é que dê grande valor à minha vida, mas quem é que vai entrar numa casa onde há bexigas? Mas ela, ela não teve medo. Ergueu a bebê e disse: «Não tem febre nenhuma.» Depois cuspiu no dedo, esfregou com ele as marcas vermelhas e elas saíram. Não passavam de suco de bagas. A pobre tonta da mãe tinha imaginado enganar-nos para ficar com a criança.
Nesta altura, Manane ria com gosto. A sua cara amarelada quase não mudava de expressão, mas percebia-se pelo movimento dos flancos.
— Então o marido bateu-lhe, temendo a cólera da sacerdotisa. E em breve voltamos para o deserto, mas em cada ano alguém da gente do Lugar voltava à aldeia no meio dos pomares de macieiras, a ver como a criança se ia desenvolvendo. Assim se passaram cinco anos e então Thar e Kossil fizeram a jornada, com os guardas do Templo e soldados do elmo vermelho mandados pelo Rei-Deus para as escoltar em segurança. Trouxeram a criança de volta aqui, pois ela era em verdade a Sacerdotisa dos Túmulos renascida e aqui pertencia. E quem era a criança, hã, pequenina?
— Eu — disse Arha, o olhar perdido na lonjura, como se para ver algo que não conseguia ver, algo que se perdera de vista.
Certa vez, perguntou:
— O que foi… o que foi que a mãe fez, quando vieram para lhe tirarem a filha?
Mas Manane não sabia. Ele não acompanhara a sacerdotisa naquela jornada final.
E ela não conseguia lembrar-se. De que serviria recordar? Fora-se, tudo se fora. Tinha vindo para onde devia. Em todo o mundo conhecia apenas um único lugar, o Lugar dos Túmulos de Atuan.
No primeiro ano, ali dormira no grande dormitório, junto das outras noviças, raparigas entre os quatro e os catorze anos. Já então Manane fora escolhido entre os Dez Vigilantes como seu guardião privativo e a sua cama fora preparada numa pequena alcova, parcialmente separada da sala principal, longa e de teto travejado e baixo, do dormitório na Casa Grande, dormitório onde as raparigas trocavam risadinhas e segredos antes de adormecerem, onde bocejavam e entrançavam os cabelos umas às outras na luz cinzenta do amanhecer. Quando o nome lhe foi retirado e se tornou Arha, passou a dormir sozinha na Casa Pequena, na cama e no quarto que iriam ser a sua cama e o seu quarto para o resto da vida. Aquela casa era dela, a Casa da Única Sacerdotisa, e ninguém ali podia entrar sem sua permissão. Quando era ainda muito pequena, gostava de ouvir as pessoas baterem submissamente à sua porta e de lhes dizer «Pode entrar», assim como a aborrecia que as duas Grã-Sacerdotisas, Kossil e Thar, considerassem a sua permissão como coisa certa e lhe entrassem em casa sem bater.
Os dias foram passando, foram passando os anos, sempre iguais. As raparigas do Lugar dos Túmulos passavam o tempo em aulas e exercícios. Não jogavam jogos nenhum. Não havia tempo para jogos. Aprendiam os cantos sagrados e as danças sagradas, as histórias das Terras de Kargad, os mistérios daquele entre os deuses a que eram dedicadas, o Rei-Deus que governava em Áuabath ou os Irmãos Gêmeos, Atuáh e Ualuáh. De todas elas, só Arha aprendera os ritos d’Aqueles-que-não-têm-Nome, e esses foram-lhe ensinados por uma única pessoa, Thar, a Grã-Sacerdotisa dos Irmãos-Deuses. Esse aprendizado retirava-a de junto das outras durante uma hora ou mais por dia, mas a maior parte do seu tempo, tal como o delas, era passado simplesmente a trabalhar. Aprenderam a fiar e a tecer a lã das suas ovelhas. Aprenderam a plantar e a colher, e a preparar os alimentos que sempre comiam: lentilhas, trigo mourisco, moído grosso para fazer uma papa ou em farinha fina para pão ázimo, cebolas, abóboras, queijo de cabra, maçãs e mel.
A melhor coisa que lhes podia acontecer era mandarem-nas pescar no rio escuro e verde que corria através do deserto, uma meia milha a nordeste do Lugar, levando uma maçã ou um pão a servir de almoço, e poderem ficar sentadas todo o dia à luz árida do sol, entre os juncos, vendo correr a água preguiçosa e verde, ou observando a lenta variação na sombra das nuvens sobre as montanhas. Mas se alguma gritava de excitação quando a linha dava uma esticão e conseguia lançar para terra um peixe de escamas brilhantes e corpo chato, um peixe que caía na margem e se afogava no ar, logo Mébeth soltava um silvo como o de uma víbora:
— Chchchcht! Pára de gritar, criança idiota!
Mébeth, que servia no templo do Rei-Deus, era uma mulher de tez escura, jovem ainda mas dura e cortante como obsidiana. A sua paixão era a pesca. Era preciso cair nas suas boas graças e nunca soltar um pio, de outro modo ela nunca mais tornaria a levar a pessoa a pescar, o que significava não voltar mais ao rio, a não ser para pegar água quando, no Verão, o nível nos poços baixava. Essa é que era tarefa aborrecida, arrastar-se sob um calor de brasas durante meia milha até ao rio, encher os dois baldes suspensos da sua vara para o transporte e depois seguir tão depressa quanto possível, colina acima, até ao Lugar. Os primeiros cem metros eram fáceis, mas logo os baldes começavam a pesar mais, a vara a queimar os ombros como uma barra de ferro em brasa, e a luz que cegava, refletida pela brancura do caminho ressequido, e cada passo se tornava mais difícil e mais lento. Chegava-se por fim à sombra fresca no pátio traseiro da Casa Grande, junto à horta, para deitar a água dos baldes para dentro da cisterna com um grande chape. E então era preciso dar meia volta e fazer de novo tudo aquilo, uma vez e outra e outra ainda.
Dentro dos limites do Lugar — único nome que tinha ou de que precisava, dado ser o mais antigo e sagrado de todos os lugares nas Quatro Terras do Império Karguiano — viviam umas duzentas pessoas e havia muitos edifícios: três templos, a Casa Grande e a Casa Pequena, os alojamentos dos vigilantes eunucos e, encostados ao exterior da muralha, os aquartelamentos dos guardas e muitas choupanas dos escravos, e ainda os armazéns, os redis das ovelhas, os das cabras e as casas de lavoura. Visto à distância, lá de onde, nos cumes desertos a ocidente, nada crescia a não ser salva, pequenas plantas daninhas e ervas do deserto, parecia uma pequena vila. Mesmo ainda de mais longe, nas planícies orientais, levantando os olhos, seria possível avistar o teto dourado do Templo dos Irmãos-Deuses, brilhando sob as montanhas, como uma partícula de mica numa parede rochosa.
Esse templo era um cubo de pedra, estucado de branco, sem janelas, com um átrio e uma porta baixos. Mais espetacular, e centenas de anos mais recente, era o templo do Rei-Deus, um pouco mais abaixo, com um pórtico alto e uma fila de espessas colunas brancas com capitéis pintados, trazidas a bordo de navios de Hur-at-Hur, onde há florestas, e arrastadas à custa do esforço de vinte escravos através das planícies nuas até ao Lugar. Se um viajante se aproximasse vindo de leste, só depois de ver O telhado dourado e as brancas colunas avistaria também, mais acima na Colina do Lugar, sobrepujando tudo o resto, tão requeimado do sol e de aspecto tão arruinado como o próprio deserto, o mais antigo dos templo da sua espécie. A enorme e rasteira Mansão do Trono, com as suas paredes remendadas, a sua cúpula achatada e a esboroar-se.
Atrás da Mansão e circundando toda a crista da colina, estendia-se um muro maciço de pedra, erguido sem cimento algum e meio derrocado em muitos pontos. Dentro da curva do muro havia várias pedras negras, de cinco metros e meio a seis metros de alto, como que brotando da terra quais dedos gigantescos.
Uma vez que o olhar caísse sobre elas, a elas regressava constantemente. Ali se erguiam, cheias de significado, e no entanto ninguém saberia dizer o que significavam. Eram em número de nove. Uma estava perfeitamente direita, as outras apresentavam uma maior ou menor inclinação e duas tinham mesmo caído. Estavam incrustadas de liquens de cor cinzenta e laranja, como se as tivessem salpicado com tinta, todas menos uma que surgia nua e negra, com uma espécie de brilho baço. Esta era macia ao tato, mas nas outras, sob a crosta de liquens, podiam descortinar-se, ou apalpar com os dedos, vagas gravuras — formas, sinais, quem sabia? Estas nove pedras eram os Túmulos de Atuan. Erguiam-se ali, dizia-se, desde o tempo dos primeiros homens, desde que Terramar fora criada. Haviam sido erigidos na escuridão, quando as terras tinham sido erguidas das profundezas do oceano. Eram mais, muito mais antigos que os Reis-Deuses de Kargad, mais antigos que os Irmãos-Deuses, mais antigos que a luz. Eram os túmulos dos que tinham governado antes que o mundo dos homens chegasse a existir, daqueles que não tinham nome, e aquela que os servia não tinha nome.
Não era muitas vezes que ela caminhava por entre eles e ninguém mais punha alguma vez os pés naquele solo onde se erguiam, no cume do monte, dentro do muro de pedra, por trás da Mansão do Trono. Duas vezes por ano, pela lua cheia mais próxima dos equinócios da Primavera e do Outono, havia um sacrifício perante o Trono e ela saía pela baixa porta traseira da Mansão trazendo uma grande bacia de bronze cheia de fumegante sangue de cabra. Competia-lhe deitar esse sangue, metade na base da pedra negra vertical e a outra metade sobre uma das pedras caídas que jaziam semienterradas no solo rochoso, manchadas pelo sangue das oferendas que se estendiam pelos séculos passados.
Por vezes, Arha saía sozinha de manhã cedo e vagueava por entre as Pedras, tentando decifrar as ligeiras bossas e os rabiscos das gravuras, tornados mais visíveis pelo ângulo baixo a que a luz sobre eles incidia. Ou então sentava-se ali e erguia o olhar para as montanhas a ocidente, ou baixava-o sobre os telhados e muros do Lugar que se estendiam a seus pés, observando os primeiros indícios de atividade ao redor da Casa Grande e dos alojamentos dos guardas, e os rebanhos de carneiros e cabras saindo para as suas escassas pastagens junto ao rio. Nunca havia nada a fazer junto das Pedras. Só ali ia porque apenas a ela era permitido, porque ali estava sozinha. Era um local lúgubre. Mesmo ao calor do meio-dia, no Verão do deserto, sentia-se ali uma friagem. Por vezes o vento assobiava um pouco entre as duas pedras que se encontravam mais juntas, encostadas uma à outra como se contassem mútuos segredos. Mas não era contado segredo algum.
Do Muro dos Túmulos partia outro muro de pedra, mais baixo, descrevendo um longo e irregular semicírculo ao redor da Colina do Lugar c afastando-se depois para norte, na direção do rio. Muito mais do que proteger o Lugar, o que fazia era cortá-lo em dois. De um lado, os templos e as casas de sacerdotisas e vigilantes, do outro, os alojamentos dos guardas e dos escravos que trabalhavam nos campos, guardavam os rebanhos e colhiam a forragem para o Lugar. Nenhum desses passava alguma vez o muro, exceto os guardas, e os seus tocadores de tambor e trombeta, que, em determinados festivais muito sagrados, acompanhavam a procissão das sacerdotisas. Mas não entravam nos portais dos templos. Nenhum outro homem podia pisar o solo interior do Lugar. Em tempos tinha havido peregrinações de reis e chefes de clãs, vindos das Quatro Terras, para ali prestarem culto. O primeiro Rei-Deus, um século e meio antes, viera desempenhar os ritos de sagração do seu próprio templo. Mas nem ele pudera caminhar entre as Pedras Tumulares, até mesmo ele tivera de comer e dormir fora do muro que rodeava o Lugar.
Era bem simples trepar aquele muro, metendo os pés nas múltiplas fendas. A Devorada e uma rapariga chamada Penthé estavam sentadas, certa tarde de fim de Primavera, em cima do muro. Tinham ambas doze anos de idade. Deveriam estar na sala da tecelagem da Casa Grande, um vasto sótão de pedra. Deviam ter estado ocupadas junto dos grandes teares com a sua baça lã preta, a tecer pano preto para os hábitos. Tinham vindo até cá fora para beberem água no poço do pátio e então Arha dissera «Anda daí!» e levara a outra garotinha colina abaixo e depois, dando a volta para ficarem fora das vistas da Casa Grande, até ao muro. E agora estavam sentadas lá em cima, três metros acima do solo, as pernas nuas a balançarem para fora, olhando por sobre as planícies rasas que se estendiam infindavelmente para leste e para norte.
— Gostava de ver o mar — disse Penthé.
— Para quê? — fez Arha, mastigando o caule amargo de serralha-branca que arrancara do muro. A terra árida acabara de passar o período de floração. Todas as pequenas flores do deserto, amarelas, rosa, brancas, estavam a espigar, dispersando minúsculas plumas e pára-sóis de um branco acinzentado ao vento, deixando cair os seus engenhosos ouriços, munidos de ganchos. O solo debaixo das macieiras do pomar estava atapetado de minúsculas manchas, branco e rosa. Os ramos eram verdes, as únicas árvores verdes a milhas e milhas em toda a volta do Lugar. Tudo o resto, de horizonte a horizonte, era do baço castanho-avermelhado do deserto, à exceção das montanhas onde havia um ligeiro matiz de prata azulada dos primeiros botões da salva que começava a florir.
— Ora, não sei para quê. Só gostava de ver alguma coisa diferente. Aqui, é sempre o mesmo. Nunca acontece nada.
— Tudo o que acontece em toda a parte começa aqui — contrapôs Arha.
— Ah, sim, bem sei!… Mas gostava de ver qualquer uma dessas coisas a acontecer!
Penthé sorriu. Era uma rapariga de boa índole, com um aspecto repousado. Coçou as solas dos pés nus, esfregando-as nas pedras aquecidas pelo sol e, daí a pouco, continuou:
— Sabes? Quando eu era pequena, vivia ao pé do mar. A nossa casa ficava mesmo por detrás das dunas e costumávamos ir às vezes até ao mar e brincar na praia. Lembro-me de que uma vez vimos passar uma flotilha de navios, lá longe no mar. Os barcos pareciam dragões com asas vermelhas. Alguns deles tinham mesmo pescoços, com cabeças de dragão. Vinham velejando junto a Atuan, mas não eram barcos karguianos. Vinham do Ocidente, das Terras Interiores, disse o chefe da aldeia. Veio toda a gente à praia para os ver. Acho que estavam com medo não fossem eles desembarcar. Mas limitaram-se a seguir caminho sem que ninguém soubesse para onde iam. Talvez a travar combate em Karego-At. Mas, bem vistas as coisas, vinham realmente das ilhas dos feiticeiros, onde todas as pessoas são da cor da poeira e podem lançar-nos um feitiço com tanta facilidade como piscar um olho.
— A mim não — retorquiu Arha ferozmente. — Eu nem olhava para eles. Esses bruxos malditos, nojentos. Como é que se atreveram a navegar tão perto da Terra Sagrada?
— Ora, deixá-los. O Rei-Deus há de vencê-los um dia destes e fazê-los todos escravos. Mas quem me dera ver outra vez o mar. Costumava haver polvos pequeninos nas poças que a maré deixava e, se a gente lhes gritava «BUUU!», ficavam todos brancos. Mas, olha. Lá vem o velho Manane à tua procura.
O guarda e servo de Arha aproximava-se lentamente, caminhando junto à face interna do muro. Inclinava-se de vez em quando para apanhar uma cebola brava, de que tinha já um grande molho, depois endireitava-se e deitava uma mirada em volta com os seus pequenos olhos de um castanho baço. Engordara com o passar dos anos e a sua pele amarelada e sem pêlos brilhava ao sol.
— Deixa-te escorregar um bocado para o lado dos homens — ciciou Arha.
E ambas as raparigas se saracotearam como lagartos pelo lado exterior do muro, até ficarem suspensas logo abaixo do topo, invisíveis do lado interior. Ouviram aproximar-se os lentos passos de Manane.
— Huuuh! Huuuh! Cara de batata! — cantarolou Arha num sussurro de troça, tão leve como o vento entre as ervas.
Os passos pesados interromperam-se.
— Quem está aí? — perguntou uma voz insegura. — Pequenina? Arha?
Silêncio.
Manane prosseguiu caminho.
— Huuuh! Huuuh! Cara de batata!
— Huuuh! Huuuh! Barriga de batata! — segredou Penthé, imitando a outra, e logo soltou uma espécie de ganido a tentar conter o riso.
— Está aí alguém?
Silêncio.
— Ora, pois, pois, pois — suspirou o eunuco e, na sua passada lenta, seguiu em frente.
Depois de ele ter desaparecido para lá da curva da encosta, as raparigas voltaram a empoleirar-se no muro. Penthé estava toda afogueada do suor e do riso, mas Arha tinha um ar furibundo.
— Estúpido do carneiro velho, sempre atrás de mim por todo o lado.
— Tem de ser — atalhou Penthé sensatamente. — O trabalho dele é tomar conta de ti.
— Aqueles que eu sirvo tomam conta de mim. É a eles que tenho de agradar. Não preciso de agradar a mais ninguém. Essas velhas, esses semi-homens, toda essa gente devia era deixar-me em paz. Eu sou a Única Sacerdotisa!
Penthé olhou fixamente a outra rapariga.
— Oh — exclamou ela baixinho —, eu sei que és, Arha…
— Pois então deviam deixar-me. E não passarem a vida a dar-me ordens!
Penthé permaneceu em silêncio durante um pedaço, porém suspirou, balançando as pernas gorduchas e olhando para as terras vastas e descoradas lá em baixo, que se iam erguendo lentamente, lentamente, até um alto, impreciso e imenso horizonte.
— Em breve vais ser tu a dar as ordens, bem sabes — asseverou finalmente, em tom calmo. — Daqui a dois anos deixamos de ser crianças. Teremos catorze anos. Eu vou para o templo do Rei-Deus e, para mim, as coisas hão de continuar a ser quase as mesmas. Mas tu serás realmente a Grã-Sacerdotisa. E até Kossil e Thar terão de te obedecer.
A Devorada nada disse. A sua expressão era obstinada, os seus olhos, sob as sobrancelhas negras, refletiam a luz do céu, brilhando palidamente.
— Devíamos voltar — sugeriu Penthé.
— Não.
— Mas a mestra tecelã é capaz de dizer a Thar. E está quase na hora dos Nove Cânticos.
— Eu fico aqui. E tu ficas também.
— A ti, não te vão castigar, mas a mim, sim — comentou Penthé com o seu ar tranqüilo. Mas Arha não deu resposta. Penthé suspirou e deixou-se estar. O Sol ia mergulhando na névoa, bem acima das planícies. Lá longe, na extensa e gradual inclinação das terras, os chocalhos das ovelhas tiniam levemente, os cordeiros baliam. O vento da Primavera soprava em ligeiras e secas lufadas, trazendo um aroma suave.
Os Nove Cânticos estavam quase a terminar quando as duas raparigas regressaram. Mébeth vira-as sentadas no Muro dos Homens e fora dar parte à sua superiora, Kossil, Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus.
Kossil era grave de movimentos e de semblante. Foi sem qualquer expressão no rosto ou na voz que se dirigiu às duas raparigas, dizendo que a seguissem. Com a sacerdotisa à cabeça, atravessaram as salas de pedra da Casa Grande, saíram pela porta da frente e subiram a pequena elevação até ao Templo de Atuáh e Ualuáh. Aí falou com a Grã-Sacerdotisa daquele templo, Thar, alta, seca e magra como uma tíbia de corça. Dirigindo-se a Penthé, Kossil ordenou:
— Despe o vestido.
Açoitou a rapariga com um molho de juncos que lhe cortaram ligeiramente a pele. Penthé suportou aquilo pacientemente, com lágrimas silenciosas. Foi mandada de volta para a sala da tecelagem sem ceia e, no dia seguinte, também não iria comer nada.
— E se mais alguma vez fores apanhada a subir ao Muro dos Homens — avisou Kossil —, vão acontecer-te coisas muito piores do que isto. Percebeste, Penthé?
A voz de Kossil era suave mas não amigável. Penthé respondeu «Sim!» e escapou-se dali, encolhendo-se e estremecendo sempre que o tecido grosseiro da roupa lhe roçava pelos cortes nas costas.
Arha permanecera ao lado de Thar, assistindo ao castigo, e agora observava Kossil, enquanto esta limpava os juncos. Thar disse-lhe:
— Não é próprio que te vejam a trepar a muros e a fazer corridas com as outras raparigas. Tu és Arha.
Carrancuda, a rapariga não deu resposta.
— É melhor que te limites a fazer apenas aquilo que te é necessário. Tu és Arha.
Por um momento, a rapariga ergueu os olhos para o rosto de Thar, depois para o de Kossil, e havia neles um abismo de ódio ou raiva que era terrível de ver. Mas a esguia sacerdotisa não deu mostras de inquietação. Em vez disso, insistiu, inclinando-se um pouco para a frente e quase num sussurro:
— Tu és Ahra. Nada sobrou. Tudo foi comido.
— Tudo foi comido — repetiu a rapariga, tal como repetira diariamente, em todos os dias da sua vida desde os seis anos.
Thar inclinou levemente a cabeça, no que foi imitada por Kossil enquanto punha de lado o açoite. A rapariga não correspondeu à mesura mas voltou as costas submissamente e saiu.
Depois da ceia de batatas e cebolas novas, ingerida em silêncio no refeitório estreito e escuro, depois de entoados os cânticos da noite, apostas as palavras sagradas sobre as portas, cumprido o breve Ritual dos Sem-Nome, estavam acabadas as tarefas do dia. As raparigas podiam agora subir para os dormitórios e fazer jogos com dados e pauzinhos, durante o tempo que durasse a única vela de medula de junco, e depois segredar no escuro de cama para cama. Arha pôs-se a caminho, atravessando os pátios e vertentes do Lugar, tal como fazia todas as noites, até à Casa Pequena onde dormia sozinha.
O vento noturno soprava suave. As estrelas do céu primaveril brilhavam em cachos, como tapetes de margaridas nos prados da Primavera, como o reluzir da luz no mar de Abril. Mas a rapariga não tinha qualquer memória de prados ou do mar. Não olhou para cima.
— Olá, pequenina!
— Manane — pronunciou ela com indiferença.
Num arrastar de pés, a grande sombra veio pôr-se ao seu lado, a luz das estrelas a refletir-se na cabeçorra calva.
— Foste castigada?
— Eu não posso ser castigada.
— Não… É tão…
— Elas não me podem castigar. Não se atrevem.
Manane ficou parado com as grandes mãos pendentes, um vulto indistinto e volumoso. A rapariga sentiu o aroma de cebolas bravas, e o cheiro a suor e a salva das suas velhas roupagens pretas, rotas na bainha e demasiado curtas para ele.
— Elas não me podem tocar. Eu sou Arha — continuou ela numa voz aguda e cheia de raiva. Depois rebentou em lágrimas.
As grandes, as expectantes mãos ergueram-se e puxaram-na para junto dele, seguraram-na suavemente, afagaram-lhe o cabelo entrançado.
— Vá, vá. Meu favinho de mel, minha pequenina…
Arha ouvia o murmúrio rouco ecoar profundamente no peito dele. As suas lágrimas em breve se estancaram, mas continuou agarrada a Manane, como se não pudesse suster-se de pé.
— Minha pobrezinha — sussurrou o eunuco e, erguendo a criança nos braços, levou-a até à porta da casa onde ela dormia sozinha. Aí, colocou-a no chão.
— Já estás bem, agora, pequenina?
Ela acenou com a cabeça que sim, voltou-se e entrou no negrume da casa.
3. OS PRISIONEIROS
Os passos de Kossil soaram ao longo do pátio de entrada da Casa Pequena, uniformes e deliberados. O seu vulto alto e pesado encheu a entrada do quarto, reduziu-se quando a sacerdotisa se inclinou, dobrando um joelho a tocar o chão, agigantou-se quando ela se endireitou completamente.
— Senhora.
— O que foi, Kossil?
— Até agora, foi-me permitido tomar a meu cargo certos assuntos respeitantes ao Domínio d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Se for teu desejo, é agora tempo que aprendas, vejas e te ocupes desses assuntos que não recordaste ainda nesta vida.
A rapariga tinha estado sentada no seu quarto sem janelas, supostamente a meditar, mas na realidade sem fazer nada e em quase nada pensando. Levou algum tempo antes que a expressão fixa, soturna e altiva do seu rosto se modificasse. Porém, modificou-se, embora ela tentasse ocultá-lo. Num tom algo dissimulado, perguntou:
— O Labirinto?
— Não, não entraremos no Labirinto. Mas vai ser necessário atravessar o Subtúmulo.
Havia na voz de Kossil um tom que talvez fosse de medo, ou um medo fingido destinado a atemorizar Arha. A rapariga ergueu-se sem pressa e disse indiferentemente:
— Muito bem!
Mas no seu coração, enquanto seguia a poderosa figura da sacerdotisa do Reino-Deus, exultava: «Por fim! Por fim! Vou finalmente ver o meu próprio domínio!»
Tinha quinze anos. Já havia um ano que adquirira o estatuto de mulher e, ao mesmo tempo, fora empossada de todos os poderes como Única Sacerdotisa dos Túmulos de Atuan, a mais alta de todas as grã-sacerdotisas das Terras de Kargard, alguém a quem nem o próprio Rei-Deus podia dar ordens. Agora todos dobravam o joelho diante dela, mesmo as severas Thar e Kossil. Todos se lhe dirigiam com elaborada deferência. Mas nada mudara. Nada acontecia. Passadas as cerimônias da sua consagração, os dias continuaram a decorrer como sempre tinham decorrido. Havia lã para ser fiada, pano negro para ser tecido, farinha para ser moída, ritos a ser cumpridos. Os Nove Cânticos tinham de ser entoados todas as noites, as portas abençoadas, as Pedras alimentadas com sangue de cabra duas vezes por ano, as danças da lua nova dançadas perante o Trono Vazio. E assim decorrera todo um ano, tal como haviam decorrido os anos anteriores, e ela perguntava-se se todos os anos da sua vida iriam também passar assim.
O tédio chegava por vezes a ser tão grande dentro dela que o sentia como um terror que lhe apertava a garganta. Havia não muito tempo fora levada a falar disso. Tinha de falar, pensara, ou acabaria por endoidecer. Foi com Manane que se abriu. O orgulho impedia-a de se confiar às outras raparigas e a cautela, de se confessar às mulheres mais velhas, mas Manane era um nada, um velho carneiro fiel. Não importava o que lhe dissesse. E, para sua surpresa, Manane tivera uma resposta para lhe dar.
— Há muito tempo — disse ele —, sabes, minha pequenina, antes de os nossos quatro territórios estarem ligados a formar um império, antes de haver um Rei-Deus a governar-nos a todos, havia muitos pequenos reis e príncipes e chefes de clã. Andavam sempre em querelas uns com os outros. E vinham até aqui para resolver as suas questões. Era assim que era, vinham da nossa terra, Atuan, de Karego-At, de Atnini e até de Hur-at-Hur, todos os chefes e príncipes com os seus servos e os seus exércitos. E perguntavam-te o que fazer. E tu apresentar-te-ias perante o Trono Vazio, a dar-lhes o conselho d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Bem, isso era há muito. Ao fim de um certo tempo, os Reis-Sacerdotes chegaram a governar sobre toda Karego-At e pouco depois estenderam o seu poder a Atuan. E agora, há quatro ou cinco vidas de homem, os Reis-Deuses têm governado os territórios em conjunto, fazendo deles um império. E assim se mudaram as coisas. O Rei-Deus pode destituir os chefes rebeldes e ele próprio resolve todas as questões. E, estás tu a ver, sendo um deus, não precisa de consultar muitas vezes Aqueles-que-não-têm-Nome.
Arha interrompeu-o para meditar no que ouvira. Ali, naquela terra desértica, à sombra das Pedras imutáveis, levando uma vida que decorrera sempre do mesmo modo desde o princípio do mundo, o tempo não tinha grande significado. Não estava habituada a pensar em coisas a mudar, em velhos costumes a morrer e outros novos a surgir. Não lhe pareceu agradável olhar as coisas a essa luz. Enrugando a testa, disse:
— Os poderes do Rei-Deus são muito menores que os d’Aqueles que eu sirvo.
— Decerto… Decerto… Mas ninguém se vai pôr a dizer isso a um deus, meu favinho de mel. Nem à sua sacerdotisa.
E perscrutando-lhe os olhos pequeninos, castanhos e brilhantes, Arha pensou em Kossil, Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus, a quem ela temera logo desde a primeira vez que pusera pé no Lugar. E entendeu o que ele queria dizer.
— Mas o Rei-Deus e as suas gentes estão a negligenciar o culto dos Túmulos. Ninguém aqui vem.
— Bom, ele envia prisioneiros para serem aqui sacrificados. Aí não há negligência. Nem nas dádivas devidas a Aqueles-que-não-têm-Nome.
— Dádivas! O seu templo é pintado de novo todos os anos, há um quintal[1] de ouro no altar, as lâmpadas queimam essência de rosas! E olha-me para a Mansão do Trono: buracos no teto, a cúpula a abrir rachas, as paredes cheias de ratos e mochos e morcegos… Mas mesmo assim há de durar mais que o Rei-Deus e todos os seus templos, e que todos os reis que vierem depois dele. Existia antes deles e, quando tiverem desaparecido, continuará a existir. Porque é o centro das coisas.
— E o centro das coisas.
— E há riquezas. Thar fala-me delas às vezes. Suficientes para encher dez vezes o templo do Rei-Deus. Ouro e troféus oferecidos há eras atrás, cem gerações, sabe-se lá quanto tempo. Estão fechadas nos fossos e subterrâneos, lá por baixo. Ainda não me levaram lá, deixam-me constantemente à espera. Mas eu sei como é. Há câmaras sob a Mansão do Trono, sob todo o Lugar, aqui mesmo debaixo do sítio onde estamos. Há um grande emaranhado de túneis, um Labirinto. É como uma grande cidade na escuridão, debaixo do monte. Cheia de ouro, e de espadas dos antigos heróis, e velhas coroas e ossos e anos e silêncio.
Ela falava como num transe, em êxtase. Manane fitava-a. O seu rosto pétreo nunca exprimia muito mais que uma tímida e obstinada tristeza, mas estava agora mais triste que o habitual.
— Bom — acabou por dizer —, e tu és senhora de tudo isso. Do silêncio e da escuridão.
— Sou. Mas elas não me deixam ver nada, só as salas acima do solo, por trás do Trono. Nem sequer me mostraram as entradas para os lugares subterrâneos. Só resmungam umas palavras acerca delas, de vez em quando. Estão a manter longe de mim o meu próprio domínio! Porque me hão de fazer esperar, esperar constantemente?
— Tu és jovem. E talvez — aventou Manane na sua aguda voz roufenha —, talvez tenham medo, pequenina. Ao fim e ao cabo, não é o domínio delas, é o teu. Estão em perigo quando lá entram. Não há mortal que não tema Aqueles-que-não-têm-Nome.
Arha nada disse mas os seus olhos relampejaram. Uma vez mais, Manane mostrara-lhe uma nova maneira de ver as coisas. Thar e Kossil sempre lhe tinham parecido tão formidandas, tão frias, tão fortes, que nunca havia sequer imaginado que pudessem ter medo. E no entanto Manane tinha razão. Elas temiam aqueles lugares, aqueles poderes de que Arha fazia parte, a que pertencia. Elas temiam entrar nos lugares de escuridão, não fossem ser devoradas.
E agora, ao descer com Kossil os degraus da Casa Pequena, ao subir o íngreme caminho serpenteante que conduzia à Mansão do Trono, recordava aquela conversa com Manane e exultava de novo. Onde quer que a levassem, o que quer que lhe mostrassem, não teria medo. Saberia encontrar o seu caminho.
Permanecendo ligeiramente atrás dela no caminho, Kossil falou:
— Um dos deveres da minha senhora, como é de seu conhecimento, é o sacrifício de certos prisioneiros, criminosos de ascendência nobre, que por sacrilégio ou traição pecaram contra o nosso amo, o Rei-Deus.
— Ou contra Aqueles-que-não-têm-Nome — contrapôs Arha.
— Verdade. Ora, não é próprio que a Devorada, quando ainda criança, cumpra esse dever. Mas a minha senhora não é já uma criança. Há prisioneiros na Sala das Correntes, enviados dois meses atrás por graça do nosso senhor, o Rei-Deus, da sua cidade de Áuabath.
— Não sabia que tinham chegado prisioneiros. Porque é que não fui informada?
— Os prisioneiros são trazidos durante a noite, e secretamente, tal como foi prescrito desde sempre nos rituais dos Túmulos. Pelo caminho secreto que a minha senhora seguirá, se tomar pelo carreiro que corre ao longo do muro.
Arha saiu do trilho para seguir o grande muro de pedra que limitava os Túmulos por trás da sala abobadada. As rochas de que era construído eram maciças. A mais pequena de entre elas pesava mais que um homem e as maiores eram tão grandes como carroções. Embora não fossem afeiçoadas, estavam cuidadosamente dispostas e interligadas. No entanto, nalgum pontos, o cimo do muro dera de si e as rochas jaziam num amontoado informe. Só uma enorme extensão de tempo pudera causar aquilo, os séculos de dias em brasa e noites glaciais do deserto, os movimentos milenares, imperceptíveis, das próprias colinas.
— É muito fácil escalar o Muro dos Túmulos — comentou Arha, enquanto caminhavam ambas junto da construção.
— Não temos homens que cheguem para o voltar a erigir, — replicou Kossil.
— Mas temos homens que cheguem para o guardar.
— Apenas escravos. Não são de confiança.
— São, se tiverem medo. Basta que a pena seja a mesma para eles que para qualquer estranho a quem eles permitam pôr o pé no terreno sagrado dentro do muro.
— Que pena é essa?
Mas Kossil não fazia a pergunta para saber a resposta. Ela própria a tinha ensinado a Arha, muito tempo atrás.
— Ser decapitado perante o Trono.
— É desejo da minha senhora que seja postado um guarda sobre o Muro dos Túmulos?
— É — respondeu a rapariga.
Dentro das suas longas mangas negras os dedos enclavinharam-se de júbilo. Sabia que Kossil não queria ceder um escravo para aquele dever de vigiar o muro e, na verdade, era uma tarefa inútil, pois que estranhos ali vinham alguma vez? Não era provável que um homem se aproximasse, por acaso ou voluntariamente, nem que fosse uma milha do Lugar sem ser visto. E de certeza que nunca chegaria próximo sequer dos Túmulos. Mas um guarda era uma honra que se lhes devia e Kossil dificilmente poderia argumentar contra isso. Tinha de obedecer a Arha.
— Aqui — indicou a sua voz seca e fria.
Arha parou. Muitas vezes palmilhara aquele caminho ao redor do Muro dos Túmulos c conhecia-o, tal como conhecia cada centímetro do Lugar, cada pedra e espinheiro e cardo. A grande parede de pedra erguia-se para a sua esquerda, até três vezes a sua altura. Para a direita, a colina descia em talude até um vale pouco profundo e árido, que logo se erguia de novo em direção ao sopé da cordilheira ocidental. Olhou todo o espaço ao seu redor e nada descortinou que não tivesse já visto antes.
— Sob as rochas vermelhas, senhora.
Poucos metros adiante, um afloramento de lava vermelha formava uma escada ou pequena escarpa na elevação de terreno. Logo que se aproximou e ficou ao mesmo nível, de frente para as rochas, Arha percebeu que formavam uma espécie de grosseiro enquadramento de porta, com quatro pés de altura.
— O que é preciso fazer?
Aprendera havia muito que, nos lugares sagrados, de nada serve tentar abrir uma porta antes de se saber como a devemos abrir.
— A minha senhora tem todas as chaves para os lugares sombrios.
Desde os ritos da sua mudança de idade, Arha passara a usar um anel de ferro suspenso do cinto e de onde pendiam uma pequena adaga e treze chaves, umas compridas e pesadas, outras tão pequenas como anzóis. Arha ergueu o anel e abriu as chaves em leque.
— Essa — disse Kossil, apontando-a, e logo pousou o grosso indicador numa fenda entre as superfícies de duas rochas vermelhas, cavadas.
A chave, uma comprida haste de ferro com dois palhetões ornamentados, entrou na fenda. Arha fê-la girar para a esquerda, usando as duas mãos porque parecia estar um pouco perra. No entanto rodou suavemente.
— Agora?
— Juntas…
E, unindo forças, empurraram a grosseira face da rocha à esquerda da fechadura. Pesadamente, mas sem prender e com muito pouco ruído, uma seção irregular de rocha vermelha moveu-se para dentro até se abrir uma estreita frincha. Lá dentro tudo era escuridão.
Arha curvou-se para a frente e entrou.
Kossil, sendo uma mulher corpulenta e com pesadas roupagens, teve de se comprimir para passar através da estreita abertura. Logo que entrou, encostou as costas à porta e, com um esforço, empurrou-a até se fechar.
A escuridão era absoluta. Não havia luz alguma. O negrume parecia comprimir-se como um feltro molhado contra os olhos abertos.
Inclinaram-se as duas até quase se agacharem, pois o lugar onde estavam não chegava a quatro pés de altura e era tão estreito que as mãos de Arha, ao apalparem, logo tocaram em rocha úmida para ambos os lados.
— Trouxeste alguma luz? — sussurrou ela, como é costume fazer-se no escuro.
Atrás dela, Kossil replicou:
— Não trouxe luz nenhuma.
Kossil baixara também a voz, mas havia nela um tom estranho, como se sorrisse. E Kossil nunca sorria. Arha sentiu um baque no coração. O sangue pulsava-lhe na garganta. Para si própria, disse ferozmente: «Este é o meu lugar, pertenço aqui, não terei medo!»
Mas em voz alta nada disse. Pôs-se a andar em frente. Era o único caminho a seguir e conduzia para o interior da colina e para baixo.
Kossil seguiu-a, respirando pesadamente, com as vestes a roçar e a raspar contra rocha e terra.
E de súbito o teto elevou-se. Arha podia pôr-se direita e, ao estender os braços para o lado, não sentiu as paredes. O ar, que cheirara a fechado e a terra, tocou-lhe o rosto com uma frescura mais úmida e os ligeiríssimos movimentos que nele sentia deram-lhe a noção de um grande espaço. Arha deu alguns passos cuidadosos em frente, para dentro daquele absoluto negrume. Um seixo, escorregando sob a sandália que calçava, foi embater noutro seixo e o leve som acordou ecos, muitos ecos, mínimos, remotos, mais remotos ainda. A caverna devia ser imensa, alta e larga, mas não vazia. Algo na sua escuridão, as superfícies de objetos invisíveis ou de paredes interiores, quebrava o eco em mil fragmentos.
— Aqui devemos estar por baixo das Pedras — disse a rapariga num murmúrio, e o seu murmurar alongou-se pela escuridão oca e desfez-se em fios de som tão finos como teia de aranha, que se colavam ao ouvido por muito tempo.
— Sim. Esta é a região do Subtúmulo. Continua. Não posso parar aqui. Segue a parede para a esquerda. Passa três aberturas.
O murmúrio de Kossil era como um silvo (e os minúsculos ecos silvavam em resposta). Estava com medo, estava verdadeiramente com medo. Não gostava de estar ali, entre os Sem-Nome, nos seus túmulos, nas suas cavernas, na escuridão. Aquele não era o lugar dela, Kossil não pertencia ali.
— Hei de aqui voltar com um archote — afirmou Arha, guiando-se ao longo da parede da caverna pelo toque dos seus dedos, maravilhando-se perante as estranhas formas da rocha, reentrâncias e saliências, delicadas curvas e arestas, desiguais como renda aqui, lisas como bronze polido além. Só podia tratar-se de trabalho de gravura. Talvez toda a caverna fosse a obra de escultores dos dias antigos.
— A luz aqui é proibida — soou asperamente o sussurro de Kossil. Ainda ela não acabara de o dizer, já Arha compreendera que assim devia ser. Ali era o próprio lar da escuridão, o centro mais íntimo da noite.
Por três vezes os seus dedos atravessaram uma falha na continuidade da escuridão rochosa e complexa. A quarta, tateou a calcular a altura e largura da abertura e entrou. Kossil seguiu-a.
Naquele túnel, que voltava a subir em declive leve, passaram por uma abertura à esquerda e depois, numa bifurcação do caminho, enveredaram pela direita. Tudo somente pelo tato, às apalpadelas, na cegueira subtérrea e no silêncio interior do solo. Numa passagem como aquela é quase constante a necessidade de tocar ambos os lados do túnel, não se vá falhar uma das aberturas que têm de ser contadas ou não dar por uma bifurcação do caminho. O tato era a única, a exclusiva orientação. Não era possível ver o caminho, apenas colhê-lo nas próprias mãos.
— Isto é o Labirinto?
— Não. Esta é a rede de passagens menor que fica logo por baixo do Trono.
— E onde é a entrada para o Labirinto?
Arha estava a gostar daquele jogo no escuro e queria ver-se perante um quebra-cabeças mais difícil.
— A segunda abertura por onde passamos no Subtúmulo. Mas agora tenta encontrar uma porta à direita, uma porta de madeira, se calhar já passamos por ela…
Arha ouviu as mãos de Kossil tateando inquietas ao longo da parede, raspando na aspereza da pedra. Mas ela mantinha as pontas dos dedos tocando apenas ligeiramente a rocha e, em breve, sentiu sob eles o grão macio da madeira. Empurrou e a porta, embora rangendo, abriu-se facilmente. Arha estacou por um momento, cega pela luz.
Entraram numa vasta sala de teto baixo, com paredes feitas de pedra talhada e iluminada por um único archote fumegante, suspenso de uma corrente. O ambiente cheirava mal por causa do fumo do archote que não tinha por onde sair. Os olhos de Arha arderam-lhe e encheram-se de lágrimas.
— Onde estão os prisioneiros?
— Além.
Só então ela compreendeu que os três montões de qualquer coisa, junto à parede mais afastada da sala, eram homens.
— A porta não está fechada. Não há guardas.
— Não é preciso nenhum.
Arha avançou mais uns passos hesitantes pela sala, tentando ver através da fumarada. Os prisioneiros estavam acorrentados por ambos os tornozelos e um dos pulsos a grandes argolas embutidas na pedra da parede. Se um deles se quisesse deitar, o braço algemado teria de permanecer erguido, suspenso da grilheta. As suas barbas e cabelo tinham-se emaranhado de tal modo que, juntamente com a pouca luz, lhes escondiam os rostos. Um deles estava deitado, os outros dois sentados ou agachados. Estavam nus. O cheiro que deles emanava era ainda mais forte que o fedor do fumo.
Um deles parecia observar Arha. Ela julgou ver-lhe o brilho dos olhos, depois já não estava tão certa. Os outros não se tinham movido nem erguido a cabeça.
Voltou-lhes as costas.
— Já não são gente — observou.
— Nunca o foram. Eram demônios, espíritos de feras que conspiraram contra a sagrada vida do Rei-Deus!
Os olhos de Kossil brilharam à luz vermelha do archote. Arha voltou a olhar os prisioneiros, num misto de temor e curiosidade.
— Como pode um homem atacar um deus? Como foi isso? Tu, responde. Como te atreveste a atacar um deus vivo?
O mesmo homem fitou-a através do negro matagal de cabelo, mas nada disse.
— Cortaram-lhes as línguas antes de os enviarem de Áuabath, — explicou Kossil. — Não fales com eles, senhora. São profanação. São teus, mas não para lhes falares, nem os olhares, nem pensares neles. São teus para que os dês a Aqueles-que-não-têm-Nome.
— Como é que devem ser sacrificados?
Arha não olhava já os prisioneiros. Em vez disso, encarara Kossil, extraindo energia do corpo maciço, da voz fria. Sentia-se tonta e o cheiro nauseabundo do fumo, da porcaria, agoniavam-na. E no entanto parecia pensar e falar com perfeita calma. Não fizera ela aquilo tantas vezes antes?
— A Sacerdotisa dos Túmulos sabe melhor que ninguém o gênero de morte que melhor agradará aos seus Senhores e a escolha é sua. Há muitas formas.
— Então que Gobar, o comandante dos guardas, lhes corte as cabeças. E o seu sangue será derramado perante o Trono.
— Como se estivesses a sacrificar cabras? — inquiriu Kossil com um tom de troça perante a sua falta de imaginação. Arha emudeceu e a outra continuou: — Além disso, Gobar é um homem. E com certeza a minha senhora não esqueceu que nenhum homem pode entrar nos Lugares Sombrios dos Túmulos. Se entrar, já não sai…
— Quem os trouxe aqui? Quem os alimenta?
— Os vigilantes que servem no meu templo, Duby e Uahto. São eunucos e podem aqui entrar a serviço d’Aqueles-que-não-têm-Nome, tal como eu. Os soldados do Rei-Deus deixaram os prisioneiros atados de pés e mãos do lado de fora do muro e eu e os vigilantes trouxemo-los pela Porta dos Prisioneiros, a que fica nas rochas vermelhas. É assim que sempre se faz. A água e a comida são descidas por um alçapão numa das divisões por trás do Trono. Arha ergueu os olhos e viu, junto à corrente de onde pendia o archote, um quadrado de madeira inserido no teto de pedra. Era demasiado estreito para um homem por lá passar, mas uma corda que dali se fizesse baixar viria a ficar mesmo ao alcance do prisioneiro do meio. Rapidamente, a rapariga voltou a desviar o olhar.
— Pois que não lhes desçam mais comida nem água. E deixem que o archote se extingua.
Kossil fez uma reverência.
— E os corpos, quando eles morrerem?
— Que Duby e Uahto os enterrem na grande caverna que atravessamos, o Subtúmulo — disse a rapariga, a voz cada vez mais rápida e aguda. — Terão de o fazer na escuridão. Os meus Senhores comerão os corpos.
— Assim se fará.
— Está bem assim, Kossil?
— Está bem, senhora.
— Então vamo-nos daqui — determinou Ahra, a voz quase estridente agora.
Voltou-se e apressou-se a voltar à porta de madeira e a abandonar a Sala das Correntes, penetrando no negrume do túnel. Pareceu-lhe doce e calmo como uma noite sem estrelas, silente, sem vista, nem luz, nem vida. Mergulhou na límpida escuridão, apressou-se a avançar através dela como um nadador sulcando a água. Kossil seguiu-a a passos rápidos, mas ficando cada vez mais para trás, ofegante, arrastando-se pesadamente. Sem uma hesitação, Arha repetiu o trajeto, com seus desvios a seguir e a não seguir, contornou a vastidão ecoante do subtúmulo e enveredou, toda dobrada para a frente, pelo último e longo túnel, direita à porta de pedra fechada. Ali chegada, agachou-se e procurou, tateando, a longa chave que trazia na argola, à cinta. Encontrou-a, mas não conseguiu achar o buraco da fechadura. Não havia vestígio de luz, nem que fosse a entrar por um buraco de alfinete, na parede invisível à sua frente. Os seus dedos tatearam a pedra em busca de fecho, ferrolho ou puxador, mas nada encontraram. Onde serviria a chave? Como poderia sair?
— Senhora!
A voz de Kossil, ampliada pelos ecos, silvou e reboou muito longe atrás dela.
— Senhora, a porta não se abre de dentro. Não há caminho para o exterior. Não há regresso.
Arha continuava agachada de encontro à pedra. Não deu qualquer resposta.
— Arha!
— Estou aqui.
— Vem!
E foi, arrastando-se sobre as mãos e os joelhos ao longo da passagem, como um cão, até às saias de Kossil.
— Para a direita. Rápido! Não posso demorar-me aqui. Este não é o meu lugar. Segue-me.
Arha pôs-se de pé e agarrou-se às vestes de Kossil. Seguiram em frente, acompanhando a parede estranhamente gravada da caverna para a direita por uma grande extensão, entrando depois numa abertura, negra no meio do negrume. Subiam agora, por túneis, por escadas. A rapariga continuava a agarrar as vestes da mulher. Tinha os olhos fechados.
Depois houve luz, vermelha através das pálpebras. Pensou que fosse de novo a sala cheia de fumo, iluminada pelo archote, e não abriu os olhos. Mas o ar tinha agora um cheiro mais adocicado, seco e bafento, um cheiro familiar. E os seus pés pisavam uma escadaria, quase tão íngreme como uma escada de mão. Largou o vestido de Kossil e abriu os olhos. Por cima da sua cabeça havia um alçapão aberto. Trepou por ele acima logo atrás de Kossil. Dava para uma divisão que ela conhecia, uma pequena cela de pedra que continha um par de arcas e caixas de ferro, parte da miríade de pequenas divisões por trás da Sala do Trono na Mansão. A luz do dia bruxuleava, cinzenta e frouxa, no corredor para lá da porta.
— A outra, a Porta dos Prisioneiros, conduz apenas aos túneis. Não para fora deles. Este é o único caminho de saída. Se existe outro caminho, eu não o conheço, nem Thar. Terás de te lembrar por ti, caso exista. Mas não julgo que haja outro.
Kossil continuava a falar como que em segredo e com uma espécie de rancor. Dentro do capuz negro, o seu rosto estava pálido e úmido de suor.
— Não me lembro das voltas para esta saída.
— Eu digo-as. Uma vez. Terás de as recordar. Da próxima vez não irei contigo. Este não é o meu lugar. Terás de ir sozinha.
A rapariga assentiu com um aceno de cabeça. Ergueu os olhos para o rosto da mulher mais velha e pensou como se lhe afigurava estranha, pálida de um temor ainda mal dominado e no entanto triunfante, como se Kossil se regozijasse com a sua fraqueza.
— Irei sozinha a partir de hoje — asseverou Ahra e depois, tentando desviar-se de Kossil, sentiu as pernas a fraquejar e viu o quarto rodopiar. Desmaiou, ficando como um montículo negro aos pés da sacerdotisa.
— Virás a aprender — disse Kossil, respirando pesadamente e permanecendo imóvel. — Virás a aprender.
4. SONHOS E HISTÓRIAS
Arha esteve mal durante vários dias. Trataram-na para lhe baixarem a febre. Passava a maior parte do tempo na cama ou sentada sob a doce luz do Outono no átrio da Casa Pequena, olhando os montes a ocidente. Sentia-se fraca e estupidificada. Vinham-lhe à cabeça as mesmas idéias, uma vez e outra e outra ainda. Envergonhava-se de ter desmaiado. Não fora colocado guarda algum sobre o Muro dos Túmulos, mas agora ela nunca mais teria coragem para interrogar Kossil a esse respeito. Nem queria mesmo voltar a ver Kossil. Nunca. E isso era pela sua vergonha de ter desmaiado.
Freqüentes vezes, sob a luz do sol, punha-se a planejar como agiria da próxima vez que penetrasse nos lugares sombrios, sob a colina. Cogitava muitas vezes no gênero de morte que ordenaria para a próxima leva de prisioneiros, mais elaborada, mais digna dos rituais do Trono Vazio. E todas as noites, na escuridão, acordava a gritar:
— Ainda não estão mortos! Ainda estão a morrer!
Sonhava imenso. Sonhava que tinha de fazer comida, grandes caldeirões de saborosas papas para depois entornar completamente dentro de um buraco no chão. Sonhava que tinha de levar uma bacia cheia de água, uma funda bacia de bronze, através do escuro, a alguém que tinha sede. Nunca conseguia chegar junto dessa pessoa. Acordava, ela própria com sede, mas não se levantava para ir beber. Deixava-se ficar deitada, de olhos abertos, no quarto sem janelas.
Certa manhã, Penthé veio visitá-la. Do átrio, Arha viu como ela se aproximava da Casa Pequena, com um ar descuidado e vago, como se acontecesse simplesmente ter passado por ali sem finalidade alguma. Se Arha não tivesse falado, ela nunca teria subido os degraus. Mas Arha sentia-se só. E falou.
Penthé fez a profunda reverência a que se obrigavam todos os que se aproximavam da Sacerdotisa dos Túmulos e depois deixou-se cair nos degraus aos pés de Arha e soltou um ruído que soou como «Pffiufffl». Tornara-se bastante alta e gorda A qualquer coisa que fizesse logo ficava vermelha como uma cereja e agora estava corada de andar.
— Ouvi dizer que estavas doente. Guardei algumas maçãs para te trazer.
E de repente, de um lado qualquer dentro do seu volumoso hábito negro, retirou uma rede de junco entrançado contendo umas oito maçãs, perfeitas e amarelas. Penthé estava agora consagrada ao serviço do Rei-Deus e servia no seu templo às ordens de Kossil. Mas ainda não era sacerdotisa e continuava a ter lições e tarefas juntamente com as noviças.
— Este ano, a Poppe e eu é que escolhemos as maçãs e eu pus de lado as melhores de todas. Põem sempre a secar as que são mesmo melhores. É claro que duram mais, mas parece-me um desperdício tão grande. Não são lindas?
Arha apalpou a pele acetinada, dourada, das maçãs, olhou os pés a que aderiam ainda delicadamente folhas castanhas.
— São. São lindas.
— Come uma — disse Penthé.
— Agora não. Come tu.
Penthé, por delicadeza, escolheu a mais pequena e devorou-a com dez dentadas sumarentas, eficazes e interessadas.
— Era capaz de passar o dia todo a comer — confessou ela. — Nunca tenho que me chegue. Quem me dera ser cozinheira em vez de sacerdotisa. Havia de cozinhar melhor que aquela velha sovina da Nathabba e, além disso, podia rapar os tachos… Ah, sabes do que aconteceu à Munith? Ela estava encarregada de polir aqueles jarros de bronze onde se guarda o óleo de rosas, sabes, os estreitos e compridos, com tampas. Vai daí ela pensou que também tinha de os limpar por dentro de maneira que enfiou a mão num, com uma rodilha à volta, estás a ver, e depois não conseguiu tirar a mão. Tentou com tanta força que ficou com o pulso todo empolado e inchado, estás a ver, de maneira que então é que ficou mesmo presa. E desatou a correr como um cavalo pelo dormitório todo e a gritar: «Não o consigo tirar! Não o consigo tirar!» E o Punti já está tão surdo que julgou que havia fogo e desatou a guinchar para os outros vigilantes que viessem salvar as noviças. E o Uahto, que estava a ordenhar, veio a correr lá do curral a ver o que se passava, e deixou a porta aberta, de maneira que as cabras leiteiras saíram e vieram em debandada para o pátio e atiraram-se ao Punti e aos vigilantes e às miúdas, e a Munith continuava a sacudir o jarro na ponta do braço, completamente histérica, de maneira que andava tudo por ali numa correria, eis senão quando sai a Kossil do templo. E vai e diz: «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?»
E o rosto redondo e simpático de Penthé contorceu-se numa careta de repulsa, que nada tinha a ver com a fria expressão de Kossil e, no entanto, de certa maneira, era tão parecida com Kossil que Arha soltou uma espécie de riso resfolegado e quase atemorizado. Mas já Penthé prosseguia.
— «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?» repetiu a Kossil. E então… e então a cabra castanha chifrou-lhe no rabo — e Penthé desfez-se em gargalhadas, com as lágrimas a encherem-lhe os olhos. — E a Mu-Munith deu com o jarro na cacabra.
As duas raparigas balançaram-se para a frente e para trás em risadas espasmódicas, agarradas aos joelhos, quase a sufocar.
— E a Kossil virou-se para trás e disse «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?» para a… para a… para a cabra…
O fim da história perdeu-se em gargalhadas. Finalmente, Penthé enxugou os olhos, assoou o nariz e, distraidamente, pôs-se a comer outra maçã.
Todo aquele riso deixara Arha um pouco trêmula. Fez por se acalmar e, daí a pouco, perguntou:
— Como é que vieste para aqui, Penthé?
— Oh, eu era a sexta rapariga que os meus pais tinham tido e eles não podiam criar tantas e casar todas. De maneira que, quando fiz sete anos, trouxeram-me ao templo do Rei-Deus e dedicaram-me. Foi isto em Ossáua. Mas acho que aí havia noviças a mais, porque, pouco depois, mandaram-me para cá. Ou talvez tenham pensado que eu era capaz de dar uma sacerdotisa especialmente boa ou assim. Mas, se foi isso, estavam muito enganados!
E Penthé mordeu a maçã com uma expressão entre divertida e pesarosa.
— Preferias não ter sido sacerdotisa?
— Se preferia? Claro! Antes queria casar com um guardador de porcos e viver num chiqueiro. Antes queria sei lá o quê do que ficar aqui enterrada viva, todos os dias da minha vida, com um monte de mulheres num desgraçado de um deserto onde nunca vem ninguém! Mas não serve de nada pôr-me a desejar assim, porque agora já fui consagrada e não me posso livrar disso. Mas só espero que na minha próxima vida seja uma dançarina em Áuabath! Porque bem o terei merecido.
Arha baixou a vista para ela, uma expressão parada e soturna nos olhos. Não compreendia. Sentia que nunca antes tinha visto realmente Penthé, que nunca a olhara e vira, rotunda e plena de vida e sumo como uma das suas maçãs douradas, linda de se ver.
— Então o Templo não significa nada para ti? — perguntou, com bastante aspereza.
Penthé, sempre submissa e a quem era fácil atemorizar, não se alarmou desta vez.
— Ah, eu bem sei como os teus Senhores são importantes para ti — disse, com uma indiferença que chocou Arha. — Seja como for, isso até faz algum sentido porque tu és a sua única serva especial. Tu não foste só consagrada, nasceste especialmente para isso. Mas vê o meu caso. Será que tenho de sentir tanto temor respeitoso, e isso assim, pelo Rei-Deus? Afinal, é só um homem, apesar de viver em Áuabath, num palácio com dez milhas a toda a volta e telhados de ouro. Mas ele tem uns cinqüenta anos e é careca. Vê-se muito bem em todas as estátuas. E aposto que até tem de cortar as unhas dos pés, tal e qual como outro homem qualquer. Sei perfeitamente que é um deus, também. Mas o que penso é que vai ser muito mais divino depois de ter morrido.
Arha concordou com Penthé, porque secretamente também ela acabara por considerar os auto-intitulados Imperadores Divinos de Kargad como usurpadores, falsos deuses que tentavam surrupiar o culto devido aos verdadeiros e eternos Poderes. Mas algo havia por detrás das palavras de Penthé com que não concordava, algo de totalmente novo para ela, algo de assustador. Até aí nunca se dera conta de como as pessoas eram diferentes, e quão diversamente viam a vida. Sentiu-se como se, de repente, ao levantar os olhos, todo um novo planeta, enorme e populoso, lhe tivesse surgido, suspenso logo ali, fora da janela, um mundo inteiramente estranho, em que os deuses não tivessem importância alguma. Assustava-a a solidez da ausência de fé em Penthé. E porque estava assustada, retrucou:
— É verdade. Os meus Senhores há muito, muito tempo que estão mortos. E nunca foram homens… Sabes tu, Penthé, que eu podia requerer-te para servires nos Túmulos?
Falara em tom prazenteiro, como se estivesse a propor à amiga uma escolha melhor. Mas a cor abandonou de imediato as faces de Penthé.
— Sim, podias — assentiu. — Mas não sou… não sou o gênero de pessoa que serve para isso.
— Porquê?
— Tenho medo do escuro — respondeu Penthé em voz baixa.
Arha fez um ligeiro ruído de escárnio, mas ficara satisfeita. Conseguira saber o que queria. Penthé podia não acreditar nos deuses, mas temia os inomináveis poderes da sombra, tal como toda a alma mortal.
— Mas eu, sabes, nunca faria isso a não ser que tu quisesses — sossegou-a Arha.
Instalou-se entre elas um longo silêncio.
— Estás a parecer-te cada vez mais com Thar — observou finalmente Penthé à sua maneira suave e sonhadora. — Ainda bem que não é com a Kossil! Mas és tão forte. Quem me dera ser forte. Mas só gosto de comer…
— Come, come — incentivou-a Arha, superior e divertida. E Penthé consumiu lentamente uma terceira maçã até só deixar as sementes.
As exigências do infindável ritual do Lugar vieram arrancar Arha ao seu isolamento alguns dias mais tarde. Uma cabra dera à luz, fora de tempo, dois cabritos gêmeos que, segundo os usos, deviam ser sacrificados aos Irmãos-Deuses Gêmeos. Um ritual importante no qual a Primeira Sacerdotisa devia estar presente. Depois veio o escuro da lua, a lua nova, e as cerimônias do negrume tinham de ser cumpridas perante o Trono Vazio. Arha aspirou os fumos entorpecentes de ervas que ardiam em largos tabuleiros de bronze em frente do Trono e dançou, solitária e vestida de negro. Dançou para os espíritos invisíveis dos mortos e dos ainda por nascer e, enquanto dançava, os espíritos povoaram o ar ao seu redor, seguindo o voltar e girar dos seus pés e os lentos, os seguros gestos dos seus braços. Cantou os cânticos cujas palavras nenhum homem compreendia e que aprendera sílaba a sílaba, havia muito tempo, com Thar. Um coro de sacerdotisas, oculto na penumbra por trás da grande fila dupla de colunas, fazia ecoar as estranhas palavras que ela entoava e o ar na vasta sala em ruínas sussurrava de vozes, como se os espíritos que o povoavam repetissem os cânticos uma e outra vez.
O Rei-Deus em Áuabath não voltou a enviar prisioneiros para o Lugar e, gradualmente, Arha deixou de sonhar com aqueles três, agora de há muito mortos e enterrados em covas pouco profundas na grande caverna sob as Pedras Tumulares.
Arha encheu-se de coragem para voltar a essa caverna. Tinha de lá regressar. A Sacerdotisa dos Túmulos tem de ser capaz de entrar no seu próprio domínio sem temor, de saber os seus caminhos.
Da primeira vez que entrou pelo alçapão, foi difícil. Porém, não tanto como temera. Tinha-se preparado tão bem para aquilo, determinara tão fortemente que iria só e manteria a coragem, que quando ali chegou quase se sentira desiludida ao descobrir que não havia nada de que ter medo. Poderia haver sepulturas, mas não conseguia vê-las. Não conseguia ver fosse o que fosse. Era negro. Era silencioso. E era tudo.
Dia após dia ali voltou, entrando sempre pelo alçapão na câmara atrás do Trono, até conhecer bem todo o circuito da caverna com as suas estranhas paredes esculpidas — tão bem quanto se pode conhecer o que não conseguimos ver. Nunca se afastava das paredes porque, a aventurar-se através da grande extensão vazia, poderia em breve perder no escuro o seu sentido de orientação e assim, voltando finalmente e às cegas para junto da parede, não saber já onde estava. Pois, como tivera ocasião de aprender da primeira vez, o importante era saber por que voltas e aberturas se tinha passado e as que faltavam ainda. Isso tinha de ser feito pela contagem, porque para o tatear das mãos era tudo igual. A memória de Arha fora bem treinada e não encontrou dificuldade naquele estranho truque de achar o caminho pelo tato e os números, em vez de o fazer pela vista e o senso comum. Em breve conhecia de cor todos os corredores que partiam do Subtúmulo, essa rede de passagens menor que se estendia por baixo da Sala do Trono e do cimo da colina. Mas havia um corredor onde ela nunca entrava. O segundo à esquerda a partir da entrada de rocha vermelha, aquele de que, se lá entrasse julgando ser um dos que já conhecia, poderia nunca mais encontrar o caminho de saída. O seu desejo de lá entrar, de conhecer o Labirinto, ia crescendo constantemente, mas dominava-o até que tivesse aprendido tudo o que pudesse acerca dele, à superfície.
Thar pouco sabia a esse respeito para além dos nomes de certas câmaras, e a lista de diretivas, de voltas a dar e não dar, para chegar a essas câmaras. Contava tudo isso a Arha, mas sem nunca as desenhar na poeira do chão, nem sequer as indicar com um movimento de mão, no ar. E ela própria nunca seguira essas diretivas, nunca entrara no Labirinto. Mas quando Arha lhe perguntava «Qual é o caminho da porta de ferro que permanece aberta até à Sala Pintada?» ou «Por onde segue o caminho que vai da Sala dos Ossos até ao túnel junto ao rio?», então Thar ficava em silêncio por instantes e depois recitava as estranhas diretivas que havia muito aprendera com a Ahra-que-foi. Tantos cruzamentos a passar, tantas vezes para virar à esquerda, tantas à direita e sempre assim, por aí fora. E tudo isso aprendeu Arha de cor, como Thar o fizera, freqüentemente logo da primeira vez que ouvia as indicações. A noite, estendida na cama, repetia-as para si própria, tentando imaginar os locais, as câmaras, os desvios.
Thar mostrou a Arha os múltiplos orifícios de observação que se abriam para o interior do dédalo, em cada edifício e templo do Lugar e até por baixo de rochas, ao ar livre. A teia de aranha dos túneis com suas paredes de pedra estendia-se sob o Lugar e mesmo para lá dos seus muros. Havia milhas de túneis lá em baixo no escuro. Ali, ninguém a não ser ela, as duas Grã-Sacerdotisas e os seus servidores especiais, os eunucos Manane, Uahto e Duby, sabia da existência daquele dédalo, presente sob cada passo que davam. Entre os outros, corriam vagos rumores a tal respeito. Todos sabiam que havia túneis ou câmaras de algum tipo sob as Pedras Tumulares. Mas ninguém tinha grande curiosidade acerca d’Aqueles-que-não-têm-Nome ou dos lugares a eles consagrados. Talvez sentissem que, quanto menos soubessem, melhor. É claro que Arha, por seu lado, era extremamente curiosa e, sabendo que havia aberturas por onde espreitar para dentro do Labirinto, tinha-as procurado. Porém, estavam tão bem escondidas, tanto no pavimentado do chão como no solo do deserto, que ela nunca encontrara nenhuma nem sequer a que havia na sua própria Pequena Casa, até que Thar as mostrasse.
Numa noite de início de Primavera, pegou numa lanterna de vela e desceu, levando-a apagada, através do Subtúmulo e até à segunda abertura para a esquerda, na passagem vinda da porta da rocha vermelha.
No meio da escuridão, adiantou-se uns trinta passos ao longo da passagem e depois atravessou uma entrada cuja moldura de ferro embutida na rocha reconheceu pelo tato. Até aí, era aquele o limite das suas explorações. Transposta a Porta de Ferro, caminhou por muito tempo ao longo do túnel e quando, finalmente, este se começou a encurvar para a direita, acendeu a vela e olhou em volta. Porque, ali, a luz era permitida. Não se encontrava já no Subtúmulo, mas num local menos sagrado, embora talvez mais temível ainda. Estava no Labirinto.
As paredes, nuas e em bruto, o teto abobadado e o chão, tudo de pedra, rodeavam-na dentro da pequena esfera que era a luz da vela. O ar estava morto. Para a frente e para trás, o túnel perdia-se na escuridão.
Os túneis, todos iguais, cruzavam-se e recruzavam-se. Arha foi contando cuidadosamente as entradas a passar e por onde virar, e recitou para si própria as indicações de Thar, embora as soubesse perfeitamente. Porque seria fatal perder-se no Labirinto. No Subtúmulo e nas passagens curtas em redor, Kossil ou Thar poderiam encontrá-la, ou Manane vir procurá-la, pois já ali o levara várias vezes. Aqui, nenhum deles estivera vez alguma. Só ela própria. E de nada lhe valeria se viessem ao Subtúmulo a chamá-la em altas vozes, se ela estivesse perdida num emaranhado de túneis em espiral, a meia milha deles. Imaginou-se a ouvir o eco das vozes que a chamavam, reboando por todos os corredores, e como tentaria ir ao encontro delas, mas, perdida, só conseguiria perder-se ainda mais definitivamente. E imaginou isto tão vividamente que parou, pensando ter ouvido o chamamento de uma voz distante. Mas não havia som algum. E ela não ia perder-se. Era muito cuidadosa e aquele era o seu lugar, o seu próprio domínio. Os poderes da treva, Aqueles-que-não-têm-Nome, guiar-lhe-iam os passos ali, tal como fariam perder-se qualquer outro mortal que se atrevesse a entrar no Labirinto dos Túmulos.
Não foi muito longe dessa primeira vez, mas o suficiente para que a estranha e amarga, mas mesmo assim agradável, certeza da extrema solidão e independência, ali dentro, se desenvolvesse fortemente nela, atraindo-a uma e outra vez, e de cada uma mais para o interior do Labirinto. Chegou à Sala Pintada e aos Seis Caminhos, percorreu o longo Túnel Exterior e penetrou no estranho emaranhado que conduzia à Sala dos Ossos.
— Quando foi construído o Labirinto? — perguntou ela a Thar.
E a severa e esguia sacerdotisa respondeu:
— Senhora, não sei. Ninguém sabe.
— Porque foi feito?
— Para ocultar os tesouros dos Túmulos e como punição para aqueles que pretendessem roubar esses tesouros.
— Todos os tesouros que até agora vi estão nas câmaras por trás do Trono e nas caves por baixo dele. O que se oculta no Labirinto?
— Um tesouro imensamente maior e mais antigo. Desejarias vê-lo?
— Sim.
— Ninguém, a não ser tu, pode entrar na Sala do Tesouro dos Túmulos. Podes levar os teus servos para o Labirinto, mas não para dentro da Sala do Tesouro. Ainda que fosse Manane a entrar aí, a ira das trevas despertaria e ele não sairia vivo do Labirinto. Ali tens de ir sozinha, para sempre. Eu sei onde se encontra o Grande Tesouro. Ensinaste-me o caminho, quinze anos atrás, antes de morreres, para que eu me recordasse e te dissesse quando regressasses. Posso descrever-te o caminho que deves seguir no Labirinto depois da Sala Pintada. E a chave para a Sala do Tesouro é essa de prata que tens na argola, com a figura de um dragão esculpida no punho. Mas tens de ir sozinha.
— Ensina-me o caminho.
Thar ensinou-lho e ela aprendeu, tal como aprendia tudo o que lhe era ensinado. Mas não foi ver o Grande Tesouro dos Túmulos. Um impreciso sentimento de que a sua vontade ou o seu saber não eram ainda completos a reteve. Ou talvez fosse por desejar manter algo de reserva, algo por que esperar, que projetasse algum encanto sobre aqueles infindáveis túneis que atravessavam a escuridão e terminavam sempre em paredes nuas ou em qualquer cela poeirenta e vazia. Iria esperar ainda algum tempo, antes de ver os seus tesouros.
Ao fim e ao cabo, não os tinha ela já visto antes?
Mas ainda lhe causava estranheza quando Thar ou Kossil lhe falavam de coisas que ela fizera ou vira antes de morrer. Sabia que morrera verdadeiramente e que renascera num novo corpo à hora da morte do seu antigo corpo. E não apenas uma vez, quinze anos antes, mas cinqüenta antes, e antes dessa vez, e antes dessa, ao longo dos anos e das centenas de anos, até ao próprio princípio dos tempos, quando o Labirinto fora escavado, as Pedras erigidas e a primeira Grã-Sacerdotisa d’Aqueles-que-não-têm-Nome vivera naquele Lugar e dançara perante o Trono Vazio. Eram todas uma e mesma, todas essas vidas e a sua. Ela era a primeira Grã-Sacerdotisa. Todos os seres humanos renasciam constantemente, mas só ela, Arha, constantemente renascia como ela própria. Cem vezes aprendera os caminhos e voltas do Labirinto e, por fim, chegara à última câmara oculta.
Por vezes julgava recordar. Os escuros lugares sob a colina eram-lhe tão familiares como se não fossem apenas o seu domínio, mas também o seu lar. Quando aspirava os fumos entorpecentes para dançar na lua nova, a cabeça tornava-se leve e o seu corpo deixava de lhe pertencer. Então dançava através dos séculos, de pés descalços e envolta em vestes negras, e sabia que a dança nunca cessara.
Mas, ainda assim, havia sempre aquela estranheza quando Thar lhe dizia «Disseste-me antes de morrer…»
Certa vez, perguntou:
— Quem eram aqueles homens que quiseram vir roubar os Túmulos? Alguma vez algum o conseguiu?
A idéia de haver ladrões afigurara-se-lhe emocionante mas improvável. Como poderiam chegar secretamente ao Lugar? Os peregrinos eram muito poucos, menos ainda que os prisioneiros. De vez em quando, novas noviças ou escravos eram enviados de templos menos importantes dos Quatro Territórios ou aparecia um pequeno grupo a trazer alguma oferta de ouro ou incenso raro a um dos templos. E era tudo. Ninguém ali ia por acaso, nem para vender e comprar, nem para ver o panorama, nem para roubar. Ninguém ali ia, a não ser que tivesse ordens para o fazer. Arha nem sequer sabia qual fosse a distância até à vila mais próxima, vinte milhas ou mais, e a vila mais próxima era bem pequena. O Lugar estava defendido pelo vazio e pela solidão. Quem quer que atravessasse o deserto que o rodeava, pensou ela, teria tanta possibilidade de passar despercebido como uma ovelha negra num campo de neve.
Estava com Thar e Kossil, com quem muito do seu tempo era agora passado quando não se encontrava na Casa Pequena ou sozinha, sob a colina. Era uma noite de Abril, tempestuosa e fria. Estavam sentadas junto a um pequeno fogo de salva, à lareira da divisão que ficava por trás do templo do Rei-Deus, o quarto de Kossil. Do lado de fora da porta, no átrio, Manane e Duby disputavam um jogo com pauzinhos e fichas, atirando ao ar um feixe de pauzinhos e apanhando a maior quantidade possível nas costas da mão. Secretamente, no pátio interior da Casa Pequena, Manane e Arha ainda o jogavam às vezes. O ruído de pauzinhos a cair, as roucas interjeições de triunfo ou derrota, o ligeiro estalar do fogo, eram os únicos sons que se ouviam quando entre as três sacerdotisas se fazia silêncio. Ao seu redor, para além das paredes, estendia-se o profundo silêncio do deserto noturno. De vez em quando, chegava até elas o tamborilar de esparsas mas fortes bátegas de água.
— Muitos vieram para roubar os Túmulos, há muito tempo. Mas nunca nenhum o conseguiu — afirmou Thar.
Taciturna como era, gostava no entanto de, uma vez por outra, contar uma história, e freqüentemente o fazia como parte da educação de Arha. Pelo seu aspecto, aquela devia ser uma noite em que seria possível arrancar-lhe uma história.
— Como podia algum homem atrever-se?
— Eles atreveram-se — esbravejou Kossil. — Eram bruxos, gente de magia das Terras Interiores. Isso foi antes de os Reis-Deuses governarem as Terras de Kargad. Nesse tempo não éramos tão fortes como hoje. Os feiticeiros costumavam vir navegando de ocidente até Karego-At e Atuan, para saquear as povoações costeiras, pilhar as quintas e chegando mesmo a entrar na Cidade Sagrada de Áuabath. Vinham para matar dragões, diziam, mas ficavam para roubar vilas e templos.
— E os seus grandes heróis vinham até ao meio de nós para experimentar as suas espadas — interpôs Thar — e lançar os seus ímpios feitiços. Um deles, um grande feiticeiro e senhor de dragões, o maior entre todos eles, veio aqui encontrar a derrota. Foi há muito, muito tempo, mas a história é ainda recordada e não apenas aqui. O mágico chamava-se Erreth-Akbe e, no Ocidente, era não só feiticeiro como também rei. Veio até às nossas terras e, em Áuabath, reuniu-se com certos senhores rebeldes karguianos e lutou pelo domínio da cidade contra o Grão-Sacerdote do Templo Interior dos Irmãos-Deuses. Por longo tempo combateram, a magia do homem contra o faiscar dos deuses, e o templo foi-se destruindo ao redor deles. Por fim, o Grão-Sacerdote quebrou a vara dos bruxedos do mágico, partiu em dois o seu amuleto do poder e derrotou-o. O feiticeiro escapou da cidade e das terras de Kargad e fugiu através de toda Terramar até o mais longe possível para ocidente. Mas aí um dragão tirou-lhe a vida, porque ele perdera o seu poder. E desde esse dia o poder e a autoridade das Terras Interiores não mais cessou de diminuir. Ora o Grão-Sacerdote chamava-se Intáthin e foi o primeiro da casa de Tarb, essa linhagem de que, após o cumprimento das profecias e a passagem dos séculos, descenderam os Sacerdotes-Reis de Karego-At e, deles, os Reis-Deuses de toda Kargad. E assim foi que, desde os dias de Intáthin, o poder e o domínio dos territórios karguianos não mais cessaram de aumentar. Aqueles que vieram para roubar os Túmulos eram bruxos, sempre tentando recuperar o amuleto quebrado de Erreth-Akbe. Mas continua aqui, onde o Grão-Sacerdote o colocou para que fosse guardado. E também os seus ossos…
E Thar apontou para o chão a seus pés.
— Metade está aqui — acrescentou Kossil.
— E a outra metade perdida para sempre.
— Perdida como? — perguntou Arha.
— Uma metade, que ficou na mão de Intáthin, foi por ele dada ao Tesouro dos Túmulos, onde ficaria em segurança para sempre. A outra ficou na mão do bruxo mas ele entregou-a, antes de fugir, a um rei insignificante, um dos seus rebeldes, chamado Thoreg de Hupun. Não sei porque o terá feito.
— Para causar conflito, para envaidecer Thoreg — adiantou Kossil. — E conseguiu-o. Os descendentes de Thoreg voltaram a rebelar-se quando a casa de Tarb alcançou o poder. E uma vez mais pegou em armas contra o primeiro Rei-Deus, recusando reconhecê-lo como rei ou como deus. Eram uma raça maldita, enfeitiçada. Agora já todos morreram.
Thar assentiu com um aceno de cabeça e prosseguiu:
— O pai do nosso atual Rei-Deus, o Senhor Que Se Ergueu, dominou essa família de Hupun e destruiu-lhes os palácios. Feito isto, o meio amuleto, que eles tinham sempre conservado desde os tempos de Erreth-Akbe e de Intáthin, perdeu-se. Ninguém sabe o que lhe terá acontecido. E desde então já passou o tempo de uma vida.
— Certamente terá sido deitado fora como lixo — sugeriu Kossil. — Dizem que não se assemelha a nada de valor, esse Anel de Erreth-Akbe. Maldito seja ele e malditas todas as coisas da gente da magia!
E Kossil cuspiu no fogo.
— Alguma vez viste a metade que está aqui? — perguntou Arha, voltando-se para Thar.
A mulher magra sacudiu a cabeça negativamente.
— Está nessa sala do tesouro onde ninguém pode penetrar, a não ser a Grã-Sacerdotisa. É talvez o maior de todos os tesouros que ali se encontram, não sei. Mas penso que talvez seja. Durante centenas de anos, as Terras Interiores têm enviado até aqui ladrões e feiticeiros a tentar recuperá-lo. E eles passam por cofres abertos, cheios de ouro, sem parar porque procuram apenas essa única coisa. Muito tempo passou desde que Erreth-Akbe e Intáthin viveram e mesmo assim a história continua a ser contada e voltada a contar, tanto aqui como no Ocidente. Muitas são as coisas que envelhecem e se vão, com o passar dos séculos. Muito poucas são as coisas preciosas que permanecem preciosas, ou as histórias que continuam a ser contadas.
Depois de permanecer silenciosa e pensativa durante algum tempo, Arha observou:
— Devem ter sido homens muito corajosos, ou muito estúpidos, para entrarem nos Túmulos. Não conheciam eles os poderes d’Aqueles-que-não-têm-Nome?
— Não! — retorquiu Kossil na sua voz fria. — Eles não têm deuses. Fazem magia e julgam-se eles próprios deuses. Mas não o são. E quando morrem, não voltam a nascer. Tornam-se pó e ossos e, durante algum tempo, os seus fantasmas gemem no vento, até que o vento os dispersa. Não têm almas imortais.
— Mas que magia é essa que eles fazem? — perguntou Arha, cativada. Nem sequer se lembrou de ter dito uma vez que teria virado costas e recusado olhar os navios das Terras Interiores. — Como é que fazem isso? E o que é que isso faz?
— Truques, ilusões, prestidigitação — foi a resposta de Kossil.
— Algo mais que isso — interpôs Thar —, se é que há ao menos uma parte de verdade nas histórias. Os feiticeiros do Ocidente podem levantar e acalmar os ventos, e fazê-los soprar para onde querem. Nesse ponto, todos concordam e contam a mesma história. É por isso que são grandes navegantes. Podem pôr o vento de magia nas suas velas, indo para onde desejam, e aquietar as tempestades no mar. E diz-se que podem fazer luz a seu bel-prazer, e escuridão também. E transformar pedras em diamantes, chumbo em ouro. E que podem construir um grande palácio ou uma cidade inteira num instante, pelo menos em aparência. E que se podem transformar em ursos, ou peixes, ou dragões, conforme lhes agradar.
— Não acredito em nada disso — contrapôs Kossil. — Que são perigosos, sutis nos seus truques, escorregadios como enguias, isso sim. Mas dizem que se tirarmos o bordão de madeira a um feiticeiro, ele fica sem poder algum. Provavelmente têm runas malfazejas escritas no bordão.
Mas Thar voltou a discordar com uma sacudidela de cabeça.
— Sim, é verdade que trazem um bordão, mas é apenas um instrumento para o poder que têm dentro de si.
— Mas como alcançam o poder? — perguntou Arha. — De onde vem ele?
— Mentiras — disse Kossil.
— Palavras — emendou Thar. — Foi o que certa vez me foi dito por alguém que tinha visto um grande bruxo das Terras Interiores, um Mago, como são chamados. Tinham-no feito prisioneiro, durante uma incursão para ocidente. Ele mostrou-lhes um pau seco e sobre ele pronunciou uma palavra. E eis senão quando, floriu. E disse outra palavra e deu maçãs vermelhas. E disse ainda mais uma palavra e pau, flores, maçãs, tudo desapareceu e o feiticeiro também. Com uma só palavra ele fora-se como se vai um arco-íris, num abrir e fechar de olhos, sem deixar rasto. E nunca mais o conseguiram encontrar naquela ilha. Seria isto apenas prestidigitação?
— É fácil fazer tolos dos tolos — comentou Kossil.
Thar nada mais disse, para evitar a discussão, mas Arha não queria de maneira alguma abandonar o assunto.
— Como é que são realmente essas gentes da magia? — perguntou. — São realmente todos pretos e com os olhos brancos?
— São pretos e abjetos. Nunca vi nenhum — respondeu Kossil com satisfação, deslocando o seu pesado e volumoso corpo sobre o banco baixo e estendendo as mãos para o fogo.
— Possam os Irmãos-Deuses mantê-los longe de nós — resmungou Thar.
— Nunca mais aqui voltarão — afirmou Kossil.
E o fogo crepitou, a chuva rufou no telhado e, do lado de lá da entrada sombria, soou a voz aguda de Manane, gritando:
— Ahá! Uma metade para mim, uma metade!
5. LUZ SOB A COLINA
Ia o ano de novo rodando, a aproximar-se do Inverno, quando Thar morreu. No Verão, viera sobre ela uma doença consumidora e ela, que fora magra, ficou esquelética, ela, que fora sisuda, deixou completamente de falar. Só a Arha dirigia por vezes a palavra, quando estavam apenas as duas. Mas depois até isso acabou e foi em silêncio que penetrou na escuridão. Depois de ela se ter ido, Arha sentiu-lhe dolorosamente a falta. Apesar da sua severidade, nunca fora cruel. Fora orgulho que ensinara a Arha e não temor.
Agora, havia apenas Kossil.
Na Primavera, viria de Áuabath uma nova Grã-Sacerdotisa para o Templo dos Irmãos-Deuses. Até lá, Arha e Kossil dividiam entre si o governo do Lugar. A mulher tratava a rapariga por «senhora» e devia obedecer a qualquer ordem dada por esta. Mas Arha em breve aprendeu a não dar ordens a Kossil. Tinha o direito de o fazer, mas não a energia, pois bem grande devia tal energia ser para enfrentar a inveja de Kossil por uma posição superior à sua, o ódio por toda e qualquer coisa que ela própria não pudesse controlar.
A partir da altura em que Arha aprendera (com a doce Penthé) que a ausência de fé existia, e o aceitara como uma realidade embora a assustasse, fora capaz de encarar Kossil muito mais friamente e de a entender. No seu coração, Kossil não tinha verdadeiro respeito por Aqueles-que-não-têm-Nome nem pelos deuses. Para ela, de sagrado só havia o poder. O Imperador das Terras de Kargad detinha agora o poder e, portanto, a seus olhos, ele era realmente um rei-deus e servi-lo-ia bem. Mas para ela os templos não passavam de aparência, as Pedras Tumulares eram rochas e os Túmulos de Atuan buracos negros no solo, terríveis mas vazios. Se pudesse, poria fim ao culto do Trono Vazio. Se se atrevesse, poria fim à Grã-Sacerdotisa.
Arha conseguira encarar mesmo este último fato com bastante firmeza. Talvez Thar a tivesse ajudado a ver as coisas tal como eram, embora sem nunca dizer nada abertamente. Nas primeiras fases da sua doença, antes que o silêncio se apoderasse dela, pedira a Arha que a viesse ver de poucos em poucos dias e falara com ela, contando-lhe muitas coisas acerca das ações do Rei-Deus e do seu predecessor e de como eram as coisas em Áuabath — assuntos que, sendo uma sacerdotisa importante, devia conhecer, mas que freqüentemente não eram lisonjeiros para o Rei-Deus nem para a sua corte. E falara também da sua própria vida e descrevera o aspecto da Arha da vida anterior e o que ela fizera. Por vezes, pouco freqüentemente, mencionara também quais poderiam ser os perigos e dificuldades na vida presente de Arha. Nem uma vez pronunciou o nome de Kossil. Mas Arha fora discípula de Thar durante onze anos, pelo que lhe bastava uma meia palavra ou uma entoação para perceber. E para recordar.
Depois de ultrapassada a sombria agitação dos Ritos do Luto, Arha deu em evitar Kossil. Logo que cumpridos os rituais e as longas tarefas do dia, dirigia-se para a sua morada solitária. E, sempre que tinha tempo, ia até à câmara por detrás do Trono, abria o alçapão e descia para o seio da escuridão. Fosse de dia ou de noite, porque isso ali não fazia qualquer diferença, prosseguia na sistemática exploração do seu domínio. O Subtúmulo, com a sua grande carga sagrada, era vedado em absoluto a qualquer ser que não fosse uma sacerdotisa e os seus eunucos de maior confiança. Qualquer outra pessoa, homem ou mulher, que se aventurasse a descer ali seria indubitavelmente ferido de morte pela ira d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Mas entre todas as regras que aprendera, nenhuma havia que proibisse a entrada no Labirinto. Não era necessário. Ali só se podia chegar através do Subtúmulo. E, de qualquer modo, será que as moscas precisam de regras para não entrarem numa teia de aranha?
Assim, levou Manane muitas vezes até às zonas periféricas do Labirinto, para que ele aprendesse os caminhos. O eunuco não tinha a menor vontade de ali entrar mas, como sempre, obedecia-lhe. Assegurou pessoalmente que Duby e Uahto, eunucos de Kossil, aprendessem o caminho até à Sala das Correntes e de saída do Subtúmulo, mas não mais que isso. Nunca os levou para dentro do Labirinto. Não queria que mais ninguém, para além de Manane, que lhe era fiel em absoluto, conhecesse os caminhos secretos. Porque eram dela, só dela, para sempre. Começara a exploração total do Labirinto. Durante todo o Outono, passou muitos dias a caminhar pelos infindáveis corredores e, mesmo assim, ainda havia zonas deles onde nunca chegara. Havia um cansaço inerente àquele traçar da vasta e insensata teia de caminhos. As pernas cansavam-se, a mente entediava-se, naquele incessante verificar de voltas e passagens que ficavam para trás ou ainda estavam para vir. Era maravilhoso, estabelecido na rocha sólida do subsolo como as ruas de uma grande cidade. Mas fora concebido para cansar e confundir os mortais que por ele caminhassem e mesmo as suas sacerdotisas tinham de acabar por sentir que nada mais era que uma gigantesca armadilha.
E assim, cada vez mais à medida que o Inverno avançava, Arha foi deixando a sua grande exploração, trocando-a pela da própria Morada, pelos altares, as alcovas atrás e debaixo dos altares, as câmaras cheias de arcas e caixas, o conteúdo dessas arcas e caixas, as passagens e os sótãos, o vazio poeirento sob a cúpula onde faziam ninho centenas de morcegos, as caves e subcaves que eram as antecâmaras dos corredores da escuridão.
As mãos e as mangas perfumadas com a seca doçura de almíscar que se tornara em pó nas oito centenas de anos em que ficara numa arca, a fronte marcada pelo negro pegajoso de uma teia de aranha, chegava a ficar uma hora ajoelhada a estudar as figuras gravadas num belo cofre de cedro que o tempo degradara, oferta de algum rei, eras antes, aos Poderes Inominados dos Túmulos. E ali estava o rei, uma minúscula figura rígida com um grande nariz, ali estava a Sala do Trono com a sua abóbada achatada e as suas colunas no pórtico, tudo gravado em delicado relevo por algum artista que havia muitos séculos era apenas pó. Ali estava a Grã-Sacerdotisa, aspirando os fumos estupefacientes dos tabuleiros de bronze e profetizando ou aconselhando o rei, cujo nariz nesta cena estava partido. O rosto da Sacerdotisa era demasiado diminuto para se verem claramente as feições mas Arha imaginava que esse rosto fosse o seu. E ficava a pensar o que teria dito ao rei e se ele lhe ficara grato.
Arha tinha sítios favoritos na Mansão do Trono, tal como qualquer pessoa poderia ter lugares favoritos numa casa clara e bem iluminada pelo sol. Ia muitas vezes até umas pequenas águas-furtadas acima de um dos quartos de vestir nas traseiras da Mansão. Ali se guardavam antigos vestidos e outros trajes, vindos dos tempos em que grandes reis e senhores vinham prestar o seu culto no Lugar dos Túmulos de Atuan, assim reconhecendo um poder maior que o seu ou de qualquer homem. Por vezes as suas filhas, as princesas, tinham envergado estas macias sedas brancas, recamadas de topázios e escuras ametistas, e dançado com as Sacerdotisas dos Túmulos. Havia pequenas mesas de marfim, pintadas, numa das salas de tesouro, representando uma dessas danças, com os senhores e os reis à espera fora da Mansão, porque, então como agora, homem algum pisava jamais o solo dos Túmulos. Mas as donzelas podiam entrar e dançar com as Sacerdotisas, vestidas de seda branca. A Sacerdotisa, essa, vestia-se com tecido grosseiro, de fabrico caseiro, sempre negro, então como agora. Mas Arha gostava de vir passar os dedos pelo pano suave, apodrecido com os anos, pelas imperecíveis pedras preciosas que, pelo seu próprio peso, se iam desprendendo do tecido. Havia um aroma naquelas arcas diferente de todas as essências e incensos dos templos do Lugar. Um aroma mais fresco, mais sutil, mais jovem.
Nas salas de tesouro era capaz de passar toda uma noite a estudar o conteúdo de uma única arca, jóia por jóia, as armaduras enferrujadas, as plumas quebradas dos elmos, as fivelas e alfinetes e broches, de bronze, de prata, de ouro maciço.
Mochos, indiferentes à sua presença, permaneciam pousados nas vigas, abrindo e fechando os olhos amarelos. Por entre as telhas escoava-se um pouco de luz das estrelas. Ou então era a neve que vinha caindo como de um crivo, fina e fria como aquelas antigas sedas que se faziam em nada ao toque das mãos.
Em certa noite, ia o Inverno já bem avançado, Arha sentiu que estava demasiado frio na Mansão. Foi até ao alçapão, ergueu-o, rodou o corpo para alcançar os degraus e fechou o alçapão sobre si. Começou a percorrer silenciosamente o caminho que tão bem conhecia agora, a passagem para o Subtúmulo. Ali, é claro, nunca levava luz. Se trazia uma lanterna, de ter ido ao Labirinto ou entrado de noite pelo campo aberto, apagava-a antes de chegar próximo do Subtúmulo. Ela nunca vira esse lugar, nunca em todas as gerações do seu sacerdócio. Entrando na passagem, soprou a vela da lanterna que trazia e, sem abrandar o andamento, seguiu em frente naquele negrume de breu, tão facilmente como um peixinho em águas turvas. Aqui, fosse Inverno ou Verão, não havia frio nem calor. Era sempre o mesmo fresco, um pouco úmido, imutável. Lá por cima, os fortes e gélidos ventos do Inverno varriam uma neve fina por sobre o deserto. Mas ali não havia vento, não havia estação. Era fechado, calmo, seguro.
Arha encaminhava-se para a Sala Pintada. Gostava por vezes de ali ir e estudar os estranhos desenhos que o bruxulear da sua lanterna arrancava à escuridão. Eram homens com longas asas e grandes olhos, serenos e taciturnos. Ninguém lhe podia dizer de quem se tratava, pois não havia mais pinturas assim em lado algum do Lugar, mas ela julgava saber o que eram. Os espíritos dos condenados, que não voltam a nascer. A Sala Pintada ficava no Labirinto, de modo que ela tinha de passar primeiro pela caverna sob as Pedras Tumulares. Ao aproximar-se, descendo a passagem inclinada, um vago cinzento como que desabrochou, não mais que uma leve sugestão de brilho, eco do eco de uma luz distante.
Julgou que os olhos lhe estivessem a pregar uma partida, como tantas vezes acontecia naquele negrume absoluto. Fechou-os, pois, e o brilho desapareceu. Abriu-os e o brilho voltou.
Deixara de caminhar e ficara imóvel. Cinzento, não negro. Um fio pálido e mortiço, apenas visível, onde nada podia ser visível, onde tudo devia ser negro.
Deu uns poucos passos em frente e estendeu a mão para aquele ângulo da parede do túnel. E, infinitamente indistinto, viu o movimento da sua mão.
Continuou em frente. Aquilo era estranho para lá do pensamento, para lá do temor, aquele ínfimo desabrochar de luz onde luz alguma jamais existira, no mais profundo sepulcro da escuridão. Prosseguiu sem fazer ruído, os pés nus, vestida de negro. Antes da última volta do corredor deteve-se. Depois, muito lentamente, deu o último passo, olhou, viu.
Viu o que nunca vira, embora tivesse vivido uma centena de vidas. A grande caverna abandonada sob as Pedras Tumulares, que não fora escavada por mãos humanas mas pelos poderes da Terra. Surgia enriquecida de cristais, ornamentada com pináculos e filigranas de calcário branco onde as águas subterrâneas tinham agido, desde há eras. Imensa, com teto e paredes resplandecendo, cintilante, delicada e intrincada, um palácio de diamantes, uma casa de ametista e cristal, de onde a antiqüíssima escuridão fora arrancada por inaudita magnificência.
Não que fosse muito brilhante a luz que obrara aquela maravilha, mas mesmo assim ofuscante para um olhar habituado ao escuro. Era um clarão suave, como um fogo-fátuo, que se movia lentamente através da caverna, arrancando milhares de reflexos cintilantes do teto ornado de gemas e fazendo ondular milhares de sombras fantásticas ao longo da paredes esculpidas.
A luz ardia na ponta de um bordão de madeira, sem fumo, sem o consumir. O bordão era seguro por mão humana. Arha viu o rosto ao lado da luz. Um rosto escuro. O rosto de um homem.
Não se moveu.
Durante muito tempo, o homem atravessou e voltou a atravessar a vasta caverna. Movia-se como se procurasse alguma coisa, espreitando para trás das arrendadas cataratas de pedra, estudando os vários corredores que se abriam para fora do Subtúmulo mas sem neles penetrar. E ainda imóvel permanecia a Sacerdotisa dos Túmulos, no ângulo negro da passagem, esperando.
O que lhe era talvez mais difícil de conceber era que estava a olhar um estranho. Muito raramente vira um estranho. Parecia-lhe que aquele teria de ser um dos vigilantes — não, um dos homens de fora da parede, um cabreiro ou um guarda, um escravo do Lugar. E que ele viera para ver os segredos d’Aqueles-que-não-têm-Nome, talvez para roubar qualquer coisa dos Túmulos…
Para tirar alguma coisa. Para roubar os Poderes da Treva. Sacrilégio. Foi lentamente que a palavra veio à idéia de Arha. Aquele era um homem e homem algum podia jamais pisar o solo dos Túmulos, o Lugar Sagrado. E no entanto chegara até ali, ao espaço oco que era o coração dos Túmulos. Entrara nele. Fizera luz onde a luz era proibida, onde nunca existira desde o princípio do mundo. Porque não o teriam Aqueles-que-não-têm-Nome ferido de morte?
O homem estava agora a mirar o chão pétreo, que se encontrava fendido e revolvido. Via-se que tinha sido aberto e voltado a fechar. Os informes e estéreis pedaços de solo, cavados para fazer as sepulturas, não tinham sido devidamente nivelados depois.
Os Senhores de Arha tinham devorado aqueles três. Porque não faziam o mesmo a este? De que estariam à espera?
Que as mãos dela agissem, que a língua dela falasse, pois essas eram as mãos e a língua d’Aqueles-que-não-têm-Nome.
— Vai-te! Vai-te! Desaparece! — bradou ela de imediato a plenos pulmões. Grandes ecos estridentes reboaram ao longo da caverna, como que enevoando o rosto escuro, sobressaltado, que se voltou para ela e, por um momento, através do esplendor subitamente abalado da caverna, a viu. Depois a luz desapareceu. Todo o esplendor se foi. Escuridão total. E silêncio.
Arha podia agora voltar a pensar, liberta como estava do feitiço da luz.
O estranho devia ter entrado pela porta de rocha vermelha, a Porta dos Prisioneiros, portanto tentaria fugir por aí. Tão ligeira e silenciosa como os mochos de asas suaves, ela percorreu a meia periferia da caverna até ao túnel baixo que conduzia àquela porta que só abria para dentro. Inclinou-se para a frente à entrada do túnel. Não havia qualquer corrente de ar vinda do exterior. O estranho não deixara a porta aberta atrás de si. Estava fechada e, se ele se encontrasse no túnel, ficara preso na armadilha.
Mas o estranho não estava no túnel. Arha tinha a certeza. Tão próximo, naquele lugar limitado, ela ter-lhe-ia ouvido o respirar, sentido o calor e o pulsar da sua própria vida. Não havia ninguém dentro do túnel. Endireitou-se e escutou. Para onde teria ele ido?
A escuridão era como uma venda a apertar-lhe os olhos. Ter visto o Subtúmulo confundira-a. Estava desorientada. Conhecera-o apenas como uma região definida pelo ouvido, pelo tatear tias mãos, pelo perpassar de ar frio no escuro. Uma vastidão. Um mistério destinado a nunca ser visto. Mas ela vira-o e o mistério dera lugar, não ao horror, mas à beleza, um mistério mais profundo ainda que o da treva.
Seguiu então em frente, insegura. Apalpou o caminho para a esquerda, até à segunda passagem, a que conduzia ao Labirinto. Aí parou e escutou.
Os ouvidos não lhe disseram mais que os olhos. Contudo, enquanto permanecia com uma mão apoiada de cada lado da arcada de pedra, sentiu uma ligeira, uma obscura vibração na rocha e no ar frio e sediço havia o vestígio de um aroma que não pertencia ali, o cheiro da salva brava que crescia nas colinas do deserto, por cima dela, a céu aberto.
Lenta e silenciosamente, avançou pelo corredor, seguindo o que o olfato lhe dizia.
Após talvez uns cem passos, ouviu-o. Era quase tão silencioso como ela, mas não tão seguro de pés no escuro. Arha ouviu um ligeiro arrastar, como se ele tivesse tropeçado no piso desigual, recuperando de imediato o equilíbrio. Nada mais que isso. Ela esperou um pouco e depois prosseguiu devagar, com as pontas dos dedos da mão direita a tocarem muito ligeiramente a parede. Por fim, sentiu debaixo deles uma barra roliça de metal. Aí parou e foi percorrendo com a mão a tira de ferro, quase tão alto quanto podia alcançar, até tocar num punho saliente de ferro grosseiro. De súbito, com toda a sua força, puxou para baixo esse punho.
Houve um ruído terrível de metal raspando em metal e um estrondo. Chispas azuis saltaram e caíram em chuveiro. Os ecos foram morrendo pelo corredor abaixo, atrás dela. Estendeu as mãos e sentiu, poucos centímetros apenas em frente do seu rosto, a superfície irregular de uma porta de ferro.
Inspirou profundamente.
Regressando com passos lentos ao Subtúmulo e mantendo a parede deste para a sua direita, dirigiu-se ao alçapão, na Mansão do Trono. Não se apressou e caminhou silenciosamente, embora já não houvesse necessidade de silêncio. Arha apanhara o seu ladrão. A porta que ele atravessara era o único caminho para entrar ou sair do Labirinto. E só podia ser aberta do lado de fora.
O estranho estava agora ali em baixo, no negrume do subsolo, e nunca de lá voltaria a sair.
Caminhando lenta e ereta, Arha passou pelo trono e penetrou no longo átrio das colunas. Aí, onde uma bacia de bronze sobre uma alta trípode difundia o clarão vermelho de carvões incandescentes, voltou-se e aproximou-se dos sete degraus que conduziam ao Trono.
Ajoelhando-se no degrau mais baixo, inclinou a fronte até tocar a pedra fria e poeirenta, juncada de ossos de rato que os mochos ali deixavam cair.
— Perdoai-me por ter visto o Vosso negrume devassado — disse, mas sem pronunciar as palavras em voz alta. — Perdoai-me por ter visto os Vossos túmulos violados. Sereis vingados. O meus Senhores, a morte o entregará a Vós e ele nunca renascerá!
E contudo, mesmo durante a prece, com os olhos da sua mente, ela via ainda o tremeluzente esplendor da caverna iluminada, a vida no lugar da morte. E em vez do terror perante o sacrilégio e de raiva contra o ladrão, pensava apenas em como era estranho, tão estranho…
— Que hei de eu dizer a Kossil? — perguntou a si própria ao sair para as rajadas do vento invernoso e aconchegando o manto ao corpo. — Nada. Ainda não. Eu é que sou a senhora do Labirinto. Este não é um assunto para o Rei-Deus. Dir-lhe-ei depois de o ladrão ter morrido, talvez. E como deverei matá-lo? Devia obrigar a Kossil a vir vê-lo morrer. É tão amiga da morte. De que andaria ele à procura? Deve ser louco. E como terá entrado? A Kossil e eu temos as únicas chaves da porta da rocha vermelha e do alçapão. Deve ter entrado pela porta da rocha vermelha. Só um bruxo a podia abrir. Um bruxo…
Apesar do vento que quase a fazia cair, estacou.
— Ele é um bruxo, um feiticeiro das Terras Interiores, em busca do amuleto de Erreth-Akbe.
E havia naquilo um tão revoltante fascínio que ela sentiu um súbito calor invadi-la, mesmo no meio daquele vento gélido, e riu alto. Em todo o seu redor o Lugar e o deserto que o envolvia estavam negros e silenciosos. O vento gemia. Lá em baixo, na Casa Grande, não se via uma luz. Uma neve fina, quase invisível, perpassava no vento.
— Se ele abriu a porta da rocha vermelha com bruxedos, pode abrir outras. Pode fugir.
Este pensamento deixou-a momentaneamente gelada, mas não a convenceu. Aqueles-que-não-têm-Nome tinham-no deixado entrar. E porque não? Ele não podia fazer mal algum. Que mal faz um ladrão que não pode abandonar a cena do seu roubo? Feitiços e negros poderes devia ele ter, e poderosos sem dúvida, já que chegara tão longe. Mas mais longe não iria. Nenhum feitiço lançado por homem mortal podia ser mais forte que a vontade d’Aqueles-que-não-têm-Nome, as presenças nos Túmulos, os Reis cujo Trono estava vazio.
Para se assegurar do que pensava, apressou os passos em direção à Casa Pequena. Manane estava adormecido no alpendre da entrada, embrulhado na sua capa e no coçado cobertor de pele que lhe servia de cama no Inverno. Arha entrou sem barulho, de modo a não o acordar, e sem acender qualquer lâmpada. Abriu uma pequena divisão fechada à chave, pouco mais que um armário ao fundo da entrada. Fez saltar uma chispa de pederneira, apenas o suficiente para encontrar um certo ponto no chão e, ajoelhando-se, levantou um ladrilho. Um pedaço de tecido pesado e sujo, de poucos centímetros quadrados, revelou-se-lhe ao toque. Sem ruído, desviou-o para um lado e logo saltou para trás, porque um raio de luz saíra lá de baixo, direito ao seu rosto.
Após um momento, com muito cuidado, espreitou pela abertura. Tinha esquecido que o estranho trazia aquela estranha luz no seu bordão. O máximo que ela tinha esperado fora ouvi-lo, lá em baixo, na escuridão. Esquecera a luz, mas ele estava onde ela esperara que estivesse. Precisamente por baixo do orifício de observação, junto à porta de ferro que lhe bloqueava a fuga do Labirinto.
Estava ali de pé, uma das mãos na anca, a outra segurando o bordão, tão alto como ele próprio e de cuja extremidade pendia o suave fogo-fátuo, um pouco para o lado. Tinha a cabeça, que ela olhava de pouco mais de um metro acima dele, virada para cima e ligeiramente de lado. As suas roupas eram as que qualquer viajante ou peregrino usaria no Inverno, um capote curto e pesado, uma túnica de couro, polainas de lã, sandálias com cordões. Trazia às costas uma pequena mochila de onde pendia um cantil de água e à cinta uma faca na sua bainha. E ali estava, quieto como uma estátua, tranqüilo e pensativo.
Lentamente, ergueu o bordão do solo e dirigiu a extremidade luminosa para o lado da porta, que Arha não conseguia avistar do seu ponto de observação. A luz mudou, tornando-se mais pequena e mais brilhante, um intenso fulgor. O homem falou em voz alta. A língua em que falava era estranha para Arha, mas mais estranha ainda que as palavras era a voz, profunda e ressoante.
A luz do bordão avivou-se, piscou, abrandou. Por um momento desapareceu mesmo de todo e ela deixou de o ver.
A luz de um pálido violeta do fogo-fátuo reapareceu, estável agora, e ela viu o estranho desviar-se da porta. O seu feitiço de abrir tinha falhado. Os poderes que mantinham cerrada a fechadura daquela porta eram mais fortes que qualquer magia que ele pudesse possuir.
O estranho olhou em volta, como se pensasse «E agora?».
O túnel ou corredor onde ele se encontrava tinha cerca de metro e meio de largura e o teto ficava quatro a quatro metros e meio acima do grosseiro chão de pedra. Ali as paredes eram de pedra aparelhada, colocada sem recurso a qualquer argamassa mas com imenso cuidado e com junções tais que dificilmente se conseguiria introduzir nas fendas a ponta de uma faca. Iam-se inclinando para dentro cada vez mais até formarem uma abóbada.
Nada mais havia.
O estranho avançou pelo corredor. A primeira passada ficou fora do raio de visão de Arha. A luz perdeu-se na distância. A rapariga estava prestes a voltar a colocar o pano e o ladrilho quando uma vez mais o suave raio de luz se ergueu do chão à sua frente. Ele voltara para junto da porta. Teria talvez concluído que, uma vez que se afastasse dela e penetrasse na rede de passagens, poucas probabilidades teria de a voltar a encontrar.
O estranho falou, uma única palavra dita em voz baixa. «Emenn», disse e logo de novo, mais alto, «Emenn!» E a porta de ferro estralou nas ombreiras, surdos ecos reboaram ao longo do túnel abobadado como trovões, e Arha julgou sentir o chão estremecer debaixo dela.
Mas a porta permaneceu fechada.
Ele riu então, uma gargalhada curta, a de um homem que pensa «Que grande disparate que eu fui fazer!» Olhou uma vez mais em volta, para as paredes, e quando ergueu o olhar Arha viu que o sorriso permanecia no seu rosto escuro. Depois sentou-se, tirou a mochila das costas, pescou de lá de dentro um pedaço de pão seco e pôs-se a mastigá-lo. Tirou a rolha à vasilha de couro da água e sacudiu-a. Parecia leve na sua mão, como se estivesse quase vazia. Voltou a rolhá-la sem ter bebido. Pôs a mochila atrás de si a servir de almofada, embrulhou-se bem no capote e deitou-se. Na mão direita continuava a segurar o bordão. Ao mesmo tempo que se recostava, a pequena esfera de fogo-fátuo libertou-se e ficou suspensa, flutuando no ar por trás da sua cabeça, alguns palmos acima do solo. O estranho tinha a mão esquerda sobre o peito, segurando qualquer coisa que pendia de uma pesada corrente que ele trazia ao pescoço. Ficou ali deitado muito confortavelmente, de pernas cruzadas pelos tornozelos. O seu olhar perpassou pelo orifício de observação e desviou-se. Suspirou e fechou os olhos. A luz foi diminuindo muito lentamente. Adormeceu.
A mão fechada em punho sobre o peito descontraiu-se e deslizou para o lado, de modo que a observadora lá em cima pôde então ver que talismã trazia ele pendurado da sua corrente. Era um pedaço de metal sem polimento, ao que parecia em forma de crescente.
O débil brilho da sua bruxaria foi-se desvanecendo, deixando-o no silêncio e no escuro.
Arha voltou a colocar o pedaço de tecido e o ladrilho nos seus lugares, ergueu-se cuidadosamente e esgueirou-se para o seu quarto. Ali se deixou ficar acordada durante muito tempo, na escuridão cheia com o ulular do vento, vendo constantemente na sua frente o esplendor de cristal que reluzira na casa da morte, o fogo suave que não ardia, as pedras da parede do túnel e o rosto calmo do homem adormecido.
6. ARMADILHA PARA UM HOMEM
No dia seguinte, depois de terminadas as suas tarefas nos vários templos c o ensino das danças sagradas às noviças, Arha esgueirou-se para a Casa Pequena e, depois de pôr o quarto na penumbra, abriu o orifício de observação e espreitou lá para dentro. Não havia luz. O estranho fora-se embora. A rapariga não pensara que ele fosse ficar tanto tempo junto da porta inútil, mas era o único sítio que conhecia onde o procurar. Como poderia agora encontrá-lo se ele se perdera?
Os túneis do Labirinto, segundo as indicações de Thar e a sua própria experiência, estendiam-se, com todas as suas voltas, bifurcações, espirais e becos sem saída, por mais de vinte milhas. O beco que ficava mais afastado dos Túmulos não estaria provavelmente a mais de uma milha de distância, em linha reta. Mas lá em baixo, no subsolo, nada corria a direito. Todos os túneis encurvavam, se dividiam, voltavam a reunir, se ramificavam, entrelaçando-se, formando nós, traçando rotas elaboradas que acabavam onde tinham começado, porque não havia início nem fim. Podia ir-se continuando, continuando, continuando e mesmo assim não chegar a lado algum porque não havia lado algum onde chegar. Não havia um centro, um coração, daquela teia. E, uma vez fechada a porta, deixava de ter fim. Nenhuma direção era certa.
Embora os caminhos e voltas para alcançar as várias salas e regiões estivessem firmemente implantados na memória de Arha, mesmo ela levara consigo um novelo de fio fino, deixando-o desenrolar atrás de si e voltando a enrolá-lo ao segui-lo, de regresso das suas mais longas explorações. Porque se uma das voltas e passagens que era necessário contar lhe escapasse, até ela se perderia. Uma luz não seria de qualquer ajuda, pois não havia pontos de referência. Todos os corredores, todas as entradas e aberturas eram idênticas.
O estranho podia ter andado já milhas e, mesmo assim, não estar a mais de dez metros da porta por onde entrara.
Arha foi à Mansão do Trono e ao templo dos Irmãos-Deuses, bem como à cave por baixo das cozinhas e, escolhendo um momento em que se encontrava sozinha, olhou por todos os orifícios de observação para dentro da fria e espessa escuridão. Quando a noite chegou, gélida e resplandescente de estrelas, foi a certos pontos da Colina e levantou determinadas pedras, espreitou lá para baixo e voltou a deparar a escuridão sem estrelas.
Ele estava ali. Tinha de lá estar. E no entanto escapara-lhe e ia morrer de sede antes que o encontrasse. Teria de enviar Manane a procurá-lo pelo dédalo, logo que estivesse certa da sua morte. Era insuportável pensar nisso. Ajoelhada, sob a luz fria das estrelas, no chão amargo da Colina, sentiu lágrimas de raiva a brotarem-lhe dos olhos.
Voltou para trás, descendo o caminho que conduzia ao templo do Rei-Deus. As colunas, com os seus capitéis esculpidos, surgiam brancas de geada à luz das estrelas, como pilares de osso. Bateu à porta das traseiras e Kossil franqueou-lhe a entrada.
— A que vem a minha senhora? — perguntou a rotunda mulher, com a sua expressão de fria vigilância.
— Sacerdotisa, está um homem dentro do Labirinto.
Kossil foi apanhada desprevenida. Ao menos uma vez, acontecera alguma coisa de que não estava à espera. Limitou-se a ficar ali, ereta e de olhos arregalados. Os seus olhos pareceram inchar um pouco. Pelo espírito de Arha perpassou a idéia de que Kossil se parecia imenso com Penthé a imitar Kossil e um riso louco subiu por ela dentro, foi reprimido e desapareceu.
— Um homem? No Labirinto?
— Sim, um homem. Um estranho. — E logo, como Kossil a encarasse com descrença, acrescentou: — Eu sei reconhecer um homem, embora tenha visto poucos.
Kossil ignorou-lhe a ironia.
— Como é que um homem lá pôde entrar?
— Por feitiçaria, julgo eu. Tem a pele escura, talvez seja das Terras Interiores. Veio para assaltar os Túmulos. Comecei por o encontrar no Subtúmulo, por baixo das próprias Pedras. Quando deu por mim, correu para a entrada do Labirinto, como quem sabe para onde vai. Fechei a porta de ferro depois de ele ter entrado. Fez feitiços mas isso não abriu a porta. De manhã, entrou na teia de corredores. Agora não consigo encontrá-lo.
— Tem alguma luz?
— Tem.
— E água?
— Um cantil pequeno e que já não está cheio.
— A vela já se lhe terá esgotado — ponderou Kossil. — Quatro ou cinco dias. Talvez seis. Depois podes mandar os meus vigilantes lá abaixo para trazerem o corpo. O sangue deve ser derramado em oferta ao Trono e o…
— Não — interrompeu Arha com súbita ferocidade na voz aguda. — Quero encontrá-lo vivo.
Do alto da sua grande estatura, a sacerdotisa olhou para baixo, para a rapariga.
— Porquê?
— Para o fazer… para o fazer levar mais tempo a morrer. Ele cometeu sacrilégio contra Aqueles-que-não-têm-Nome. E profanou com luz o Subtúmulo. Veio para despojar os Túmulos dos seus tesouros. Deve ser punido com alguma coisa pior que ser deixado para morrer, sozinho, dentro de um túnel.
— Sim — pronunciou Kossil como se estivesse a considerar o assunto. — Mas como irá a minha senhora apanhá-lo? Não é uma coisa certa e segura. Da outra maneira não há incerteza nenhuma. Não existe uma câmara cheia de ossos algures no Labirinto? Ossos de homens que lá entraram e não voltaram a sair?… Deixa a sua punição ao cuidado d’Aqueles-que-não-têm-Nome, à sua própria maneira, nos seus próprios caminhos, os caminhos negros do Labirinto. É uma morte bem cruel, à sede.
— Bem sei — retorquiu a rapariga.
Virou costas e saiu para a noite, tapando a cabeça com o capuz contra o vento gelado e silibante. Ah, se sabia…
Fora infantil da parte dela, e estúpido, vir ter com Kossil. Dali não lhe podia vir ajuda. A própria Kossil não sabia nada, a não ser esperar friamente a morte. Ela não entendia. Não via que o homem tinha de ser encontrado. Não deveria ser como com aqueles outros. Ela não podia voltar a suportar tal coisa. Dado que a morte tinha de ser dada, que fosse rápida e à luz do dia. Decerto seria mais apropriado que este ladrão, o primeiro homem em séculos suficientemente corajoso para tentar assaltar os Túmulos, morresse sob o fio da espada. Se ele nem sequer tinha uma alma imortal para voltar a nascer. O seu fantasma arrastar-se-ia gemendo pelos corredores. Não, não se podia deixá-lo a morrer de sede, ali sozinho, na escuridão.
Nessa noite Arha pouco dormiu e o dia foi cheio de rituais e tarefas. Passou a noite seguinte a andar, silenciosa e sem lanterna, de um orifício de observação para outro em todos os escuros edifícios do Lugar e na colina varrida pelo vento. Finalmente dirigiu-se à Casa Pequena para se deitar, duas ou três horas antes do amanhecer, mas nem então conseguiu repousar. No terceiro dia, ao fim da tarde, encaminhou-se sozinha na direção do deserto, para junto do rio que corria agora com baixo caudal devido à seca de Inverno, com gelo entre os juncos da margem. Viera-lhe à memória a recordação de uma vez em que, no Outono, se internara até muito longe no Labirinto, para além do cruzamento dos Seis-Caminhos e, indo sempre por um longo corredor em curva, ouvira por trás da pedra o som de água a correr. Não seria provável que um homem sedento, viesse por ali, lá se deixasse ficar? Mesmo aqui tão longe havia orifícios de observação. Teve de os procurar, mas Thar mostrara-lhe cada um deles, no ano anterior, e voltou a encontrá-los sem muito trabalho. A sua memória de lugar e forma era como a de uma pessoa cega. Mais parecia apalpar o seu caminho até cada sítio oculto do que procurá-lo com a vista. No segundo orifício, o que ficava mais longe dos Túmulos que qualquer outro, quando levantou o capuz para tapar a luz e chegou um olho ao buraco aberto numa superfície plana de rocha, viu abaixo de si o brilho quase extinto da luz enfeitiçada.
Ali estava o estranho, meio fora de vista. O orifício dava precisamente para o fim daquele beco sem saída. Só conseguia ver-lhe as costas, o pescoço dobrado e o braço direito. Estava sentado perto do ponto onde as paredes se encontravam e ia picando as pedras com a sua faca, uma espécie de curta adaga de aço com um punho encastoado de pedras preciosas. A lâmina estava quebrada. A ponta partida jazia no chão diretamente por baixo do orifício de observação. Quebrara-a ao tentar afastar as pedras para chegar à água que ouvia correr, claramente e rumorejante naquela quietude mortal sob a terra, do outro lado da parede impenetrável. Os seus movimentos eram apáticos. Estava muito diferente, depois daquelas três noites e três dias, da figura que ela vira ágil e calma perante a porta de ferro, rindo da sua própria derrota. Continuava igualmente obstinado, mas o poder retirara-se dele. Não dispunha de encantamento que desviasse aquelas pedras. Em vez disso, tinha de usar a sua inútil faca. Mesmo a sua luz de bruxedo era agora pálida e indistinta. Enquanto Arha o observava, a luz vacilou, a cabeça do homem ergueu-se com uma sacudidela e ele deixou cair a adaga. Mas logo, obstinadamente, voltou a apanhá-la e tentou introduzir à força a lâmina entre as pedras.
Estendida no meio dos juncos unidos pelo gelo, inconsciente de onde estava e do que fazia, Arha levou a boca à fria abertura da rocha e pôs as mãos em concha ao redor dos lábios para aprisionar o som.
— Feiticeiro! — chamou. E a sua voz, deslizando por aquela garganta de pedra, foi sibilar friamente no túnel subterrâneo.
O homem sobressaltou-se e pôs-se atabalhoadamente de pé, saindo assim do ângulo de visão dela quando o voltou a procurar. A rapariga voltou a encostar a boca ao orifício e disse:
— Volta ao longo da parede do rio até à segunda volta. Na primeira seguinte voltas à direita, passas uma e outra vez à direita na outra. Nos Seis-Caminhos, mais uma vez à direita. Depois à esquerda, à direita, à esquerda e à direita. Deixa-te ficar aí, na Sala Pintada.
Ao mover-se para voltar a espreitar, Arha deve ter deixado entrar um raio de luz do exterior através do orifício e para dentro do túnel porque, quando olhou, ele estava de novo dentro do seu ângulo de visão e de olhos erguidos para a abertura. O seu rosto, que ela verificava agora estar marcado por cicatrizes, tinha uma expressão tensa e ansiosa. Os lábios estavam secos e enegrecidos, os olhos brilhantes. Ergueu o bordão aproximando cada vez mais a luz dos olhos dela. Assustada, Arha recuou, tapou o orifício com a sua tampa de rocha e o amontoado de pedras para proteção, ergueu-se e voltou rapidamente para o Lugar. Viu que tinha as mãos a tremer e, de vez em quando, enquanto caminhava, era tomada por uma espécie de vertigem. Não sabia o que fazer.
Se o estranho seguisse as indicações que lhe dera, voltaria na direção da porta de ferro, até à sala das pinturas. Não havia ali nada, nem motivo para que ele lá fosse. Mas havia um orifício de observação no teto da Sala Pintada, um bom, que se abria na sala do tesouro do templo dos Deuses Gêmeos. Talvez fosse por isso que ela pensara em lhe dar tais indicações. Não sabia. Por que motivo lhe falara?
Podia descer um pouco de água para ele por um dos orifícios e depois chamá-lo até esse sítio. Assim, poderia manter-se vivo por mais tempo. Enquanto a ela lhe desejasse, claro. Se lhe descesse água e alguma comida de vez em quando, ele podia ir vivendo, vivendo, vagueando pelo Labirinto. E ela podia observá-lo pelos orifícios, e dizer-lhe onde estava a água, e às vezes enganá-lo para ele ir a um sítio em vão, mas teria sempre de ir. Isso havia de o ensinar a não troçar d’Aqueles-que-não-têm-Nome, a não pavonear a sua virilidade idiota na necrópole dos Mortos Imortais!
Mas enquanto ele ali estivesse, a própria Arha nunca seria capaz de entrar no Labirinto. «Porque não?», perguntou a si própria e replicou: — «Porque ele podia escapar-se pela porta de ferro que eu teria de deixar aberta atrás de mim…» Mas não conseguiria ir mais além que o Subtúmulo. A verdade é que ela tinha medo de o enfrentar. Tinha medo do seu poder, das artes que usara para entrar no Subtúmulo, do bruxedo que mantinha viva aquela sua luz. E no entanto, haveria razão para tanto temer tais coisas? Os poderes que imperavam nos lugares da escuridão estavam do lado dela, não dele. Era evidente que ali, no domínio d’Aqueles-que-não-têm-Nome, o estranho não podia fazer muita coisa. Não conseguira abrir a porta de ferro. Não conjurara comida mágica, nem trouxera água através da parede, nem fizera aparecer nenhum monstro demoníaco que deitasse abaixo as paredes, tudo coisas que temera que ele pudesse ser capaz de fazer. Nem conseguira, vagueando durante três dias, dar com o caminho para a porta do Grande Tesouro que certamente procurara. A própria Arha nunca seguira as indicações de Thar até essa câmara, adiando e voltando a adiar essa jornada, por um certo temor respeitoso, uma relutância, uma sensação de que não chegara ainda o momento.
E agora pensava, porque não faria ele essa jornada por ela? O estrangeiro podia olhar tanto quanto lhe desejasse os tesouros dos Túmulos. Pelo bem que lhe podiam fazer! E ela poderia troçar dele, dizer-lhe que comesse o ouro e bebesse os diamantes.
Com a pressa nervosa, febril, que a possuíra durante todos aqueles três dias, correu para o templo dos Deuses Gêmeos, abriu a pequena câmara do tesouro e destapou o orifício de observação, bem oculto no chão.
A Sala Pintada ficava por baixo, mas estava escura como breu. O caminho que o homem tinha de percorrer era muito mais desviado, milhas mais longo talvez. Arha esquecera isso. E por certo o estranho estava cansado, não podia andar depressa. Talvez esquecesse as indicações que lhe dera e virasse onde não devia. Poucas pessoas conseguiam, como ela, reter indicações depois de as ouvir só uma vez. Talvez ele nem sequer entendesse a língua em que ela falava. Pois se assim fosse, que fosse vagueando até cair e morrer no meio da escuridão, o idiota, o estranho, o infiel. Que o seu fantasma gemesse pelas estradas de pedra dos Túmulos de Atuan até que o negrume mesmo isso devorasse…
Na manhã seguinte, muito cedo, após uma noite de pouco sono e maus sonhos, Arha regressou ao orifício de observação no pequeno templo. Olhou para baixo e nada viu. Negrume. Fez descer uma vela acesa numa pequena lanterna de estanho suspensa de uma corrente. Ele estava ali, na Sala Pintada. Viu, para lá do halo de luz da vela, as pernas do estranho, uma mão inerte. Falou para dentro do orifício, que era grande, tanto como todo um dos ladrilhos do soalho, chamando:
— Feiticeiro!
Não houve movimento. Estaria morto? Teria sido aquela toda a força que houvera nele? Sorriu trocistamente. Sentiu o coração bater mais rápido. «Feiticeiro!», bradou, com a voz a retinir na câmara oca por baixo dela. O estranho moveu-se e, lentamente, endireitou o tronco e olhou em volta, confuso. Um pouco depois, ergueu o rosto, pestanejando perante a pequena lanterna que balançava, suspensa do teto. O seu rosto estava terrível de se ver, inchado e escuro como o de uma múmia.
Estendeu a mão para o bordão que jazia no solo junto dele, mas não houve luz alguma que desabrochasse na madeira. Não havia já poder nele.
— Queres ver o tesouro dos Túmulos de Atuan, feiticeiro?
Ele olhou cansadamente para cima, semicerrando os olhos para a luz da lanterna que era tudo o que conseguia ver. Pouco depois, com uma careta que poderia ter-se iniciado como sorriso, assentiu com um único movimento de cabeça.
— Sai desta sala e volta à direita. Segue o primeiro corredor para a esquerda… — e foi desbobinando a longa série de indicações sem fazer uma única pausa. No fim, disse: — Aí vais encontrar o tesouro que te trouxe aqui. E lá, talvez encontres água. O que é que preferias ter agora, feiticeiro? O tesouro ou a água?
Amparando-se ao bordão, o estranho pôs-se de pé. Olhando para cima com olhos que não podiam vê-la, tentou dizer qualquer coisa mas não havia voz na sua garganta seca. Encolheu ligeiramente os ombros e saiu da Sala Pintada.
Ela não lhe daria água alguma. De qualquer maneira, o estranho nunca conseguiria dar com o caminho para a câmara do tesouro. As indicações eram demasiado extensas para ele as poder decorar. E, ainda que lá chegasse, havia o Poço. Ele agora estava na escuridão. Ia perder-se, acabaria por cair, morreria nalgum lado daquelas câmaras estreitas, ocas e secas. E Manane encontrá-lo-ia, arrastá-lo-ia cá para fora. E esse seria o fim. Arha agarrou com ambas as mãos as beiras do orifício de observação e pôs-se a balançar o corpo agachado para trás e para a frente, para trás e para a frente, mordendo o lábio inferior como se tentasse suportar alguma terrível dor. Ela não lhe daria água alguma. Não, não lhe daria água alguma. Dar-lhe-ia morte, morte, morte, morte, morte…
Nessa hora cinzenta da sua vida, Kossil veio ter com ela, penetrando na câmara do tesouro com passos pesados, volumosa nas suas negras roupas de Inverno.
— O homem já está morto?
Arha ergueu a cabeça. Não havia lágrimas nos seus olhos, nada a esconder.
— Julgo que sim — respondeu, levantando-se e sacudindo a poeira das saias. — A sua luz extinguiu-se.
— Pode ser algum truque. Os sem-alma são muito matreiros.
— Esperarei um dia para ter a certeza.
— Sim, ou talvez dois. Depois Duby pode ir lá abaixo e trazê-lo. É mais forte que o velho Manane.
— Mas Manane está ao serviço d’Aqueles-que-não-têm-Nome e Duby não. Há lugares dentro do Labirinto onde Duby não deve entrar e o ladrão está num deles.
— Mas, nesse caso, já está profanado e…
— Com a morte dele lá, voltará a ficar purificado — atalhou Arha. Pela expressão de Kossil, percebeu que devia haver algo de estranho na sua própria expressão. — E este é o meu domínio, sacerdotisa. Tenho de o cuidar tal como os meus Senhores me ordenam. Não preciso de mais lições sobre morte.
O rosto de Kossil pareceu recuar para dentro do capuz negro, como uma tartaruga do deserto a meter a cabeça na carapaça, fria, lenta e amarga.
— Muito bem, senhora.
Separaram-se em frente ao altar dos Irmãos-Deuses. Agora sem pressas, Arha encaminhou-se para a Casa Pequena e chamou Manane para que a acompanhasse. Desde que falara com Kossil, sabia o que havia a fazer.
Ela e Manane subiram juntos a Colina, entraram na Mansão, desceram ao Subtúmulo. Segurando o longo puxador e unindo esforços, abriram a porta de ferro do Labirinto. Aí, acenderam as lanternas e entraram. Com Arha a abrir o caminho, seguiram até à Sala Pintada e daí iniciaram a marcha para a Grande Câmara do Tesouro.
O ladrão não conseguira ir muito longe. Não tinham caminhado ainda quinhentos passos no seu tortuoso percurso quando deram com ele, amarfanhado no chão do estreito corredor, como um monte de farrapos deitados para ali. Antes de tombar, deixara cair o bordão que ficara a uma certa distância. Tinha sangue na boca e os olhos semicerrados.
— Está vivo — disse Manane ajoelhando e colocando a grande mão amarela no pescoço escuro, a sentir as pulsações. — Queres que o estrangule, senhora?
— Não. Quero-o vivo. Pega-o e traga-o contigo.
— Vivo? — exclamou Manane, confundido. — Para quê, senhorazinha?
— Para ser escravo dos Túmulos! Pára de falar e faz o que te mando.
Com o rosto mais melancólico que nunca, Manane obedeceu, lançando sem esforço o corpo do jovem para cima do ombro, como um saco comprido. Assim carregado, seguiu Arha com passos vacilantes. Mas não podia ir muito longe e de uma só vez com semelhante peso. Pararam uma dúzia de vezes no caminho de regresso para Manane recuperar o fôlego. A cada alto, o corredor era o mesmo: as pedras de um amarelo acinzentado, bem unidas e erguendo-se a formar a abóbada, o desigual chão de rocha, o ar parado, morto. Manane grunhindo e ofegando, o estranho totalmente inerte, as duas lanternas ardendo numa cúpula de luz que se ia estreitando e desaparecendo na escuridão do corredor, em ambas as direções. A cada parada, Arha deitava umas gotas da água que trouxera num cantil na boca seca do homem, pouco de cada vez, não fosse a vida, ao retornar, matá-lo.
— Para a Sala das Correntes? — perguntou Manane, enquanto estavam na passagem que conduzia à porta de ferro. E, perante esta pergunta, Arha pensou pela primeira vez para onde deveria levar o prisioneiro. Não sabia.
— Não, para aí, não — respondeu, mais enojada que nunca pela recordação do fumo e do fedor, dos rostos barbudos, sem fala, cegos. E Kossil poderia vir à Sala das Correntes. — Ele, ele tem de ficar no Labirinto, para que não possa recuperar a sua feitiçaria. Onde haverá uma câmara?…
— A Sala Pintada tem porta, fechadura e um orifício de observação, senhora. Se tens a certeza de que ele não consegue abrir portas…
— Ele aqui não tem poderes. Leva-o para lá, Manane.
E assim Manane voltou para trás com a sua carga, percorrendo uma boa metade do caminho já feito, demasiado atarefado e sem fôlego para protestar. Quando finalmente entraram na Sala Pintada, Arha tirou o seu longo manto de Inverno, em lã, e estendeu-o no chão empoeirado.
— Deita-o aí — disse.
Manane olhou a cena com consternada melancolia, arquejando:
— Senhorazinha…
— Eu quero que o homem viva, Manane. E de outra maneira vai morrer de frio. Olha como treme.
— O teu vestuário vai ficar profanado. O vestuário da Sacerdotisa. Ele é um infiel. E um homem — proferiu atrapalhadamente Manane, franzindo os olhos pequeninos como se lhe doesse alguma coisa.
— Então eu mando queimar o manto e tecer outro! Vá lá, Manane!
Perante isto, o eunuco inclinou-se, obediente, e deixou que o prisioneiro lhe caísse do ombro para cima do manto negro, com um som surdo. O homem ficou quieto, como se estivesse morto, mas via-se uma veia latejar-lhe fortemente no pescoço e, de quando em quando, um espasmo fazia-lhe estremecer todo o corpo.
— Devia ser acorrentado — sugeriu Manane.
— Parece-te perigoso?
E Arha soltou uma gargalhada de troça. Mas quando Manane lhe apontou um anel de ferro fixo na rocha e a que o prisioneiro podia ser preso, deixou-o ir buscar uma corrente e argola à Sala das Correntes. Resmungando, o eunuco lá foi pelo corredor, repetindo para si próprio as indicações. Já antes fora à Sala Pintada e voltara, mas nunca sozinho.
Para Arha, à luz da sua única lanterna, as pinturas nas quatro paredes pareciam mover-se, contorcer-se, as toscas figuras humanas com grandes asas pendentes, umas agachadas outras de pé, numa desolação intemporal.
Ajoelhando-se, deixou a água gotejar, muito pouco de cada vez, para dentro da boca do prisioneiro. Finalmente, ele tossiu e as suas mãos ergueram-se debilmente para o cantil. Ela deixou-o beber. Depois ele deitou-se para trás, o rosto todo molhado, sujo de pó e de sangue, e murmurou qualquer coisa, uma ou duas palavras numa língua que ela não conhecia.
Manane voltou por fim, arrastando uma corrente de aros de ferro, um grande cadeado com a respectiva chave e uma cinta de ferro com que rodeou a cintura do homem, fechando-a.
— Não está bem apertada. Ele é capaz de deslizar para fora — resmungou o eunuco, enquanto prendia a extremidade da corrente ao anel fixo na parede.
— Não. Vê!
Agora com menos temor do seu prisioneiro, Arha mostrou que não conseguia introduzir a mão entre a cinta de ferro e as costelas do homem, e acrescentou:
— A não ser que fique em jejum muito mais que quatro dias.
— Senhorazinha — interveio Manane, queixosamente —, não ponho em dúvida, mas… que préstimo tem ele como escravo d’Aqueles-que-não-têm-Nome? Ele é um homem, pequenina.
— E tu és um velho tonto, Manane. Vá, anda daí e pára com tantas preocupações.
O prisioneiro observava-os com os seus olhos brilhantes e fatigados.
— Onde está o bordão dele, Manane? Ah, além. Dê-me cá. Tem magia. Ah, e isto… Isto também levo.
E com um movimento rápido agarrou na corrente de prata que sobressaía da gola da túnica do homem e tirou-lha por cima da cabeça, embora ele tentasse agarrar-lhe os braços e fazê-la parar. Manane deu-lhe um pontapé nas costas. Ela fez a corrente descrever um arco sobre ele, fora do seu alcance.
— Este é que é o teu talismã, feiticeiro? É precioso para ti? Não parece grande coisa. Não podias arranjar nada melhor? Vou tomar conta dele por ti.
E, passando a corrente de prata sobre a sua própria cabeça, escondeu o objeto que dela pendia sob a pesada gola do seu vestido de lã.
— Tu não sabes o que fazer com isso — pronunciou o estranho, em voz muito rouca e pronunciando mal as palavras da língua karguiana, mas de modo suficientemente inteligível.
Manane voltou a dar-lhe um pontapé, o que o levou a emitir um pequeno rouquejo de dor e a fechar os olhos.
— Deixa-o, Manane. Vem.
Saiu do quarto e Manane, sempre resmungando, seguiu-a.
Nessa noite, quando já todas as luzes estavam apagadas, Arha voltou a subir a colina, sozinha. Encheu o seu cantil no poço da câmara atrás do Trono e levou a água, bem como um pão grande e achatado, ázimo, de trigo mourisco, até à Sala Pintada, no Labirinto. Colocou tudo ao alcance do prisioneiro, junto à porta. Ele dormia e nem se moveu. Arha regressou à Casa Pequena e nessa noite também ela dormiu um sono longo e repousado.
Ao princípio da tarde, voltou sozinha ao Labirinto. O pão desaparecera, a água acabara-se e o estranho estava sentado, de costas apoiadas na parede. O seu rosto ainda tinha um aspecto horrível, com sujidade e crostas, mas a expressão era atenta.
De pé, Arha permaneceu do outro lado da câmara, onde ele, acorrentado como estava, não podia de modo algum alcançá-la, e olhou-o. Depois desviou a vista. Mas não havia ali nada para onde olhar especialmente. Algo a impedia de falar. O coração batia-lhe como se estivesse com medo. Mas não havia razão para o temer. O estranho estava à sua mercê.
— É agradável ter luz — pronunciou ele na sua voz suave mas profunda, que a perturbava.
— Qual é o teu nome? — perguntou ela, decisivamente. A sua própria voz, pensou ela, soava desusadamente aguda e fina.
— Bem, na maior parte dos casos, chamam-me Gavião.
— Gavião? É esse o teu nome?
— Não.
— Então qual é o teu nome?
— Isso não te posso dizer. És tu a Grã-Sacerdotisa dos Túmulos?
— Sou.
— Como te chamam?
— Chamam-me Arha.
— Aquela que foi devorada. É isso o que quer dizer, não é? — E os seus olhos escuros observavam-na intensamente. Depois esboçou um ligeiro sorriso. — Qual é o teu nome?
— Não tenho nome. Não me faças perguntas. De onde vens?
— Das Terras Interiores, do Ocidente.
— De Havnor?
Aquele era o único nome de cidade ou ilha das Terras Interiores que ela conhecia.
— Sim, de Havnor.
— Porque vieste até aqui?
— Os Túmulos de Atuan são famosos entre o meu povo.
— Mas tu és um infiel, não és crente.
Ele abanou a cabeça.
— Ah, não, Sacerdotisa. Eu acredito nos poderes da treva! Já em outros lugares me encontrei com os Sem-Nome.
— Que outros lugares?
— No Arquipélago… nas Terras Interiores… há lugares que pertencem aos Velhos Poderes da Terra, tal como este. Mas nenhum tão grande como este. Em nenhum outro lugar têm eles um templo, uma sacerdotisa e um culto como o que recebem aqui.
Trocista, Arha perguntou:
— Então vieste prestar-lhes culto?
— Vim para os roubar — respondeu ele.
Arha estudou-lhe o rosto grave.
— Fanfarrão! — lançou-lhe.
— Sabia que não ia ser fácil.
— Fácil? É impossível. Se não fosses um descrente, saberias isso. Aqueles-que-não-têm-Nome olham pelo que lhes pertence.
— O que eu busco não é deles.
— É teu, claro?
— Meu para o reivindicar.
— Quem és, então? Um deus? Um rei? — E relanceou-o de cima abaixo, ali sentado e preso às correntes, sujo, exausto. — Não passas de um ladrão!
Ele nada disse mas o seu olhar encontrou o dela.
— Não podes olhar para mim! — disse ela em voz aguda.
— Senhora — argumentou ele —, não é minha intenção ofender-te. Sou um estranho e um transgressor. Não conheço os vossos costumes nem a cortesia devida à Sacerdotisa dos Túmulos. Estou à tua mercê e, se te ofendi, peço-te perdão.
Arha permaneceu em silêncio e, num momento, sentiu o sangue subir-lhe às faces, quente e insensato. Mas ele não estava a olhá-la e não a viu corar. Obedecera e desviara dela os escuros olhos.
Por algum tempo, nenhum deles voltou a falar. As figuras pintadas ao seu redor observavam-nos com olhos tristes, cegos.
Arha trouxera um jarro de pedra cheio de água. Os olhos do estranho desviavam-se para aí constantemente e, daí a pouco, ela disse:
— Bebe, se quiseres.
Sem mais delongas, o homem lançou-se para o jarro e, erguendo-o tão facilmente como se fosse uma taça de vinho, bebeu uma longa, muito longa golada. Depois, molhou uma extremidade da manga e, o melhor que lhe foi possível, limpou a sujidade, o sangue coalhado e as teias de aranha do rosto e das mãos. Levou algum tempo a fazer isto, com a rapariga a observá-lo. Depois de terminar, ficou com melhor aspecto, mas o seu banho à gato pusera a descoberto as cicatrizes de um dos lados da cara. Velhas cicatrizes, de há muito curadas, branquejando na sua pele escura, quatro vincos paralelos do olho ao maxilar inferior, quais sulcos deixados por enorme garra.
— O que é isso? — perguntou Arha. — Essa cicatriz.
Ele não respondeu logo.
— Algum dragão? — insistiu ela, tentando troçar. Pois não viera ela ali para escarnecer da sua vítima, para o atormentar com a sua impotência?
— Não. Não foi um dragão.
— Mas então não és, ao menos, um senhor de dragões?
— Não é isso — respondeu ele relutantemente. — Eu sou um senhor de dragões. Mas as cicatrizes foram antes disso. Eu disse-te que me tinha encontrado com os Poderes da Treva antes, noutros lugares da terra. Isto na minha cara é a marca de um dos da raça d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Mas esse não é já um sem-nome porque, no fim, eu soube o seu nome.
— Que queres dizer? Que nome?
— Isso não te posso dizer — respondeu ele e sorriu, embora o seu rosto permanecesse grave.
— Tudo isso é disparate, conversa de tolos, sacrilégio. Eles são Aqueles-que-não-têm-Nome! Não sabes de que estás a falar…
— Sei ainda melhor do que tu, Sacerdotisa — contrapôs ele, a voz mais grave ainda. — Olha melhor! — E voltou a cabeça para que ela pudesse ver bem as quatro terríveis marcas que lhe sulcavam a face.
— Não te acredito — disse ela, mas a sua voz tremeu.
— Sacerdotisa — continuou o homem suavemente —, não tens muita idade. Não podes servir os Tenebrosos há muito tempo.
— Mas sirvo. Há muito! Eu sou a Primeira Sacerdotisa, a Renascida. Servi os meus senhores durante mil anos e outros mil anos antes desses. Sou a sua serva e a sua voz e as suas mãos. E sou a sua vingança sobre aqueles que profanam os Túmulos e lançam o olhar sobre o que não é para ser visto! Pára com as tuas mentiras e fanfarronadas. Pois não vês que se eu disser uma palavra que seja, o meu guarda virá e cortar-te-á a cabeça dos ombros? Ou, se me for embora e fechar esta porta, então ninguém aqui virá, nunca, e morrerás aqui, na escuridão, e aqueles que eu sirvo comerão a tua carne e a tua alma e deixarão os teus ossos no meio da poeira?
Tranqüilamente, ele assentiu com um aceno de cabeça. Arha gaguejou e, não encontrando mais nada que dizer, saiu da sala como um pé de vento, fechando a porta atrás de si com estrondo. Deixá-lo pensar que ela não voltaria mais! Deixá-lo suar, no meio da escuridão, deixá-lo praguejar e tremer e tentar lançar os seus nojentos e inúteis bruxedos!
Porém, com os olhos da mente, ela via-o estender-se no chão para dormir, tal como o vira junto à porta de ferro, sereno como um cordeiro num prado banhado pelo sol.
Ela cuspiu na porta trancada, fez o sinal para afastar a profanação e, quase correndo, dirigiu-se para o Subtúmulo.
Enquanto seguia ao longo da parede a caminho do alçapão na Mansão, os seus dedos iam perpassando pelos delicados planos e traçados de rocha, como renda gelada. Percorreu-a uma ânsia de acender a lanterna, para uma vez mais voltar a ver, nem que fosse por um momento, a pedra trabalhada pelo tempo, o maravilhoso brilho das paredes. Cerrou os olhos com toda a força e apressou o passo.
7. O GRANDE TESOURO
Nunca os rituais e deveres do dia lhe tinham parecido tantos, nem tão triviais, nem tão compridos. As garotinhas com os seus pálidos rostos e as suas maneiras furtivas, as noviças turbulentas, as sacerdotisas cujo aspecto era frio e severo, mas cujas vidas eram um secreto emaranhado de invejas e lamentações, de pequenas ambições e paixões estéreis — todas essas mulheres entre as quais sempre vivera e que constituíam para ela o mundo humano, pareciam-lhe agora a um tempo deploráveis e entediantes.
Mas ela que servia grandes poderes, ela que era sacerdotisa da sinistra Noite, ela estava livre de tal mesquinhez. Ela não tinha de se ocupar com a torturante mesquinhez da sua vida comum, dos dias em que a grande delícia era conseguir mais uma colherada de gordura de borrego em cima das lentilhas que a vizinha de mesa… Não, ela estava livre dos dias, de todos eles. No subsolo não havia dias. Era sempre e só noite.
E naquela noite sem fim, o prisioneiro. O homem de pele escura, praticante de escuras artes, envolto em ferro e preso à pedra, à espera que ela viesse ou não viesse, a trazer-lhe água e pão e vida, ou uma faca e a tigela do magarefe e a morte, como muito bem lhe aprouvesse.
Ela não falara a ninguém do homem, senão a Kossil, e Kossil não falara a mais ninguém. Havia já três noites e três dias que ele se encontrava na Sala Pintada e ela ainda nada perguntara a Arha sobre o prisioneiro. Talvez presumisse que estava morto e que Arha encarregara Manane de levar o corpo para a Sala dos Ossos. Não era costume de Kossil aceitar qualquer coisa como certa sem mais aquelas. Porém, Arha dizia para si própria que nada havia de estranho no silêncio da outra mulher. Kossil queria que tudo se passasse em segredo e odiava ter de fazer perguntas. Além disso, Arha dissera-lhe que não se metesse nos seus assuntos. Kossil estava simplesmente a obedecer.
Contudo, como se julgava que o homem estivesse morto, Arha não podia pedir comida para ele. Assim, para além de roubar algumas maçãs e cebolas secas das caves da Casa Grande, ela prescindiu de comer. Mandou que lhe enviassem as refeições da manhã e da tarde para a Casa Pequena, sob o pretexto de que desejava comer sozinha, e todas as noites levava a comida até à Sala Pintada no Labirinto, tudo menos a sopa. Estava habituada a jejuar desde um até quatro dias e aquilo não lhe pareceu nada demais. O indivíduo no Labirinto comia os seus frugais quinhões de pão, queijo e feijões como um sapo come uma mosca: zás! já está. Era evidente que podia devorar cinco ou seis vezes mais. Mas agradecia-lhe sobriamente, como se fosse seu hóspede e ela a anfitriã a uma dessas mesas de que ela ouvira falar em descrições de festas no palácio do Rei-Deus, mesas postas com carnes assadas, pão barrado com manteiga, vinho servido em taças de cristal. O estranho era muito estranho.
— Como é que é nas Terras Interiores?
Arha trouxera ali para baixo um pequeno banco de pernas em cruz, feito de marfim, para não ter de ficar em pé enquanto o interrogava, mas também sem ter de se sentar no chão, ao nível dele.
— Bom, há muitas ilhas. Quatro vezes quarenta, diz-se, só no Arquipélago. E depois há as Estremas. Jamais homem algum navegou por todas as Estremas ou contou todas as terras. E cada uma é diferente de todas as outras. Mas talvez a mais bela entre todas seja Havnor, a grande terra no centro do mundo. E no coração de Havnor, numa vasta baía cheia de navios, fica a cidade de Havnor. As torres da cidade são construídas de mármore branco. A casa de cada príncipe e de cada mercador tem a sua torre, de maneira que elas se erguem, umas acima das outras. Os telhados das casas são em telha vermelha e todas as pontes sobre os canais são cobertas de mosaico, vermelho, azul e verde. E os pendões dos príncipes são de todas as cores, flutuando no cimo das torres brancas. Na mais alta de todas as torres está colocada, como um pináculo, erguida para o céu, a Espada de Erreth-Akbe. Quando o Sol se ergue sobre Havnor e sobre a sua lâmina que primeiro brilha e, quando se põe, a Espada permanece ainda dourada por sobre o crepúsculo durante algum tempo.
— Quem era Erreth-Akbe? — perguntou Arha, dissimulada.
O estranho ergueu os olhos para ela. Não disse nada, mas arreganhou ligeiramente os dentes. Depois, como se considerasse melhor, disse:
— É verdade, pouco deves saber acerca dele por aqui. Nada para além do fato de ter vindo até às terras karguianas, talvez. E dessa história, o que saberás?
— Sei que perdeu o bordão, o amuleto e o poder… como tu — respondeu ela. — Escapou ao Grão-Sacerdote e fugiu para o Ocidente, onde foi morto por dragões. Mas se ele tivesse vindo até aqui, aos Túmulos, não teria havido necessidade de dragões.
— Bem verdade — retorquiu o prisioneiro.
Arha não queria falar mais de Erreth-Akbe, pressentindo um perigo no assunto. — Dizem que ele era um senhor de dragões. E tu também dizes ser um. Explica-me, o que é um senhor de dragões?
O seu tom era sempre trocista, as respostas dele diretas e sem arrebiques, como se o prisioneiro lhe aceitasse as perguntas de boa-fé.
— Alguém com quem os dragões falem — explicou ele — é um senhor de dragões. Ou, pelo menos, aí reside o centro da questão. Não é um truque para dominar os dragões, como muita gente pensa. Os dragões não têm amos. Com um dragão, a questão é sempre a mesma. Fala conosco ou come-nos? Se pudermos confiar em que ele faça a primeira coisa, e em que não faça a segunda, então somos senhores de dragões.
— Os dragões sabem falar?
— Certamente! Na Antiga Fala, a língua que nós, homens, aprendemos com tanta dificuldade e que usamos de forma tão deficiente, para fazermos os nossos encantamentos de magia e de dar forma. Nenhum homem conhece totalmente essa língua, nem um décimo dela. Não tem tempo para a aprender. Mas os dragões vivem mil anos… Vale a pena falar com eles, como já te deves ter apercebido.
— Há dragões aqui, em Atuan?
— Há muitos séculos que não, creio eu, nem em Karego-At. Mas na vossa ilha mais a norte, em Hur-at-Hur, dizem que ainda há grandes dragões nas montanhas. Nas Terras Interiores, mantêm-se agora pelas regiões mais longínquas a ocidente, na remota Estrema Oeste, ilhas onde não vivem homens e poucos lá vão. Se lhes dá a fome, assaltam as terras para leste deles, mas isso raramente acontece. Já vi a ilha onde se juntam para dançar. Com as suas grandes asas, voam em espirais, entrecruzando-se, subindo mais alto, cada vez mais alto por sobre o mar ocidental, como um redemoinho de folhas amarelas no Outono.
Perdidos na visão, os seus olhos atravessavam as pinturas negras das paredes, e para lá das paredes, do solo e do negrume viam o mar aberto estendendo-se ininterruptamente até ao pôr do Sol, os dragões dourados no dourado vento.
— Estás a mentir — acusou a rapariga com ferocidade. — Estás a inventar tudo isso.
Ele olhou-a, sobressaltado.
— Mas porque haveria eu de te mentir, Arha?
— Para me fazeres sentir idiota, e estúpida, e assustada. Para te mostrares inteligente, e corajoso, e poderoso, e mais um senhor de dragões e isto e aquilo. Viste dragões a dançar, viste as torres em Havnor, sabes tudo acerca de todas as coisas. E eu não sei nada de nada e nunca estive em lado nenhum. Mas tudo o que tu sabes são mentiras! Tu não és nada senão um ladrão e um prisioneiro, e não tens alma, e não deixarás nunca este lugar. Não interessa que haja oceanos e dragões, nem torres brancas nem nada disso, porque nunca mais os voltarás a ver, nunca mais verás a luz do sol. Tudo o que eu conheço é a escuridão, a noite subterrânea. E é tudo o que realmente existe. No fim, é a única coisa que há para conhecer. O silêncio e a escuridão. Tu sabes tudo, feiticeiro. Mas eu sei uma coisa, a única coisa verdadeira!
Ele inclinou a cabeça para o peito. As suas longas mãos, de um castanho de cobre, estavam calmamente pousadas nos seus joelhos. Ela olhou-lhe a quádrupla cicatriz na face. Ele fora mais longe que ela no negrume. Ele conhecia a morte melhor que ela, até a morte… Uma vaga de ódio contra ele ergueu-se no peito, sufocando-a por um instante. Porque estava ele para ali sentado, tão indefeso e tão forte? Porque não conseguia ela derrotá-lo?
— Foi por isto que eu te deixei viver — disse ela subitamente, sem a mínima premeditação. — Quero que me mostres como são feitos os truques dos bruxos. Enquanto tiveres alguma arte para me ensinares, continuas vivo. Se não tiveres nenhuma, se for tudo tolice e mentiras, então não me serves de nada. Estás a entender?
— Estou.
— Muito bem. Continua.
Durante um minuto, ele apoiou a cabeça nas mãos e mudou ligeiramente de posição. A cinta de ferro impedia-o de ficar verdadeiramente confortável, a não ser que se deitasse ao comprido. Finalmente, ergueu a cabeça e falou muito gravemente.
— Ouve, Arha. Eu sou um Mago, aquilo a que tu chamas um bruxo. Tenho certas artes e poderes. Isso é verdade. É verdade também que aqui, no Lugar dos Antigos Poderes, a minha força é pouca e o meu saber de pouco me serve. Ora eu podia criar ilusões para ti e mostrar-te toda a espécie de maravilhas. Essa é a parte menor da feitiçaria. Já podia criar ilusões quando era ainda uma criança. Mesmo aqui as posso criar. Mas se acreditares nelas, assustar-te-ão e poderás desejar matar-me se o medo te enfurecer. E se não acreditares nelas, vê-las-ás apenas como mentiras e idiotice, como tu dizes. E aí ponho eu de novo a minha vida em risco. Ora a minha intenção e desejo, neste momento, é continuar vivo.
Isto fê-la rir e ela disse:
— Oh, ainda vais ficar vivo durante algum tempo, não consegues ver isso? És tão estúpido! Pois bem, mostra-me essas ilusões. Agora que sei que são falsas, não terei medo delas. Aliás, não lhes teria medo se fossem reais. Mas anda lá. A tua preciosa pele está a salvo, pelo menos por esta noite.
Perante isto, ele riu, como ela o fizera um momento antes. Lançavam a vida dele de um para o outro como se brincassem com uma bola.
— Que queres que te mostre?
— Que podes mostrar-me?
— Tudo.
— Estás sempre a gabar-te!
— Não — retorquiu ele, evidentemente um pouco ressentido. — Não estou. Seja como for, não era essa a minha intenção.
— Mostra-me alguma coisa que tu aches que merece a pena ser vista. Qualquer coisa!
Ele inclinou a cabeça e, por momentos, fitou as mãos. Nada aconteceu. A vela de sebo continuava a arder na lanterna, a sua chama firme e fraca. As figuras negras da parede, com as suas asas de pássaro que não se abriam para voar, os seus olhos pintados de vermelho e branco, ambos baços, avultavam sobre ambos. Não se ouvia som algum. Ela soltou um suspiro, desapontada e, de certa maneira, magoada. Ele era fraco. Falava de grandes coisas, mas não fazia nada. Não era mais que um bom mentiroso e nem sequer um ladrão capaz.
— Bom — pronunciou ela por fim, aconchegando as saias para se levantar. Mas a lã sussurrou estranhamente a esse movimento. Olhou para baixo, para si própria, e pôs-se de pé, sobressaltada.
As pesadas roupas negras que havia anos usava tinham desaparecido. O seu vestido era de seda azul-turquesa, brilhante e macia como o céu do entardecer. Abria-se em grande roda a partir das ancas e toda a saia estava bordada com delicados fios de prata, minúsculas pérolas e pedacinhos de cristal, de modo que toda ela cintilava suavemente, como a chuva de Abril.
Incapaz de falar, olhou o mago.
— Gostas? — perguntou ele.
— Mas onde?…
— É como um vestido que vi certa vez uma princesa usar, no Festival do Regresso do Sol, no Palácio Novo em Havnor — informou o feiticeiro, olhando-o com satisfação. — Disseste-me que te mostrasse alguma coisa que valesse a pena ver. Mostro-te a ti.
— Faça… faça desaparecer.
— Mas tu deste-me o teu manto — insistiu ele em tom de censura. — Não poderei eu dar-te nada em troca? Mas pronto, não te preocupes. É só ilusão. Repara.
Não pareceu que levantasse sequer um dedo e de certeza que não disse uma palavra, mas o esplendor azul da seda desapareceu e ela envergava de novo a sua roupa de severo negro.
Por momentos ainda se deixou ela ficar imóvel.
— Como é que eu sei — disse por fim —, que tu és o que pareces ser?
— Não sabes — respondeu o mago. — Eu não sei o que te pareço ser.
A rapariga voltou a cismar.
— Tu podias levar-me a ver-te como…
E interrompeu-se porque ele levantara a mão e apontava para cima, no mero esboço de um gesto. Julgando que ele lhe lançava algum feitiço, Arha aproximou-se rapidamente da porta, mas, seguindo a direção do gesto, os seus olhos deram, lá no cimo do teto escuro e arqueado, com o pequeno quadrado que era o orifício de observação da câmara do tesouro, no templo dos Deuses Gêmeos.
Não vinha qualquer luz do orifício. Não conseguia ver nada, nem ouvir ninguém, lá no alto. Mas o olhar interrogativo do homem pousava sobre ela.
Durante algum tempo, permaneceram ambos perfeitamente imóveis. Finalmente, ela pronunciou distintamente:
— A tua magia não passa de tonteira para olhos de crianças. São truques e mentiras. Já vi que chegasse. Vais ser dado a comer Aqueles-que-não-têm-Nome. Não voltarei mais aqui.
Pegou na lanterna, saiu e fez correr os ferrolhos da porta firme e ruidosamente. Depois parou e, consternada, deixou-se ali ficar, do lado de fora da porta. Que havia de fazer? Quanto teria Kossil visto ou ouvido? Que tinham eles estado a dizer? Não conseguia lembrar-se. Parecia que nunca conseguia dizer ao prisioneiro aquilo que pretendia dizer-lhe. Ele confundia-a sempre com as suas conversas acerca de dragões e torres e dar nomes aos Sem-Nome. E mais o querer ficar vivo e agradecer o manto que ela lhe dera. Nunca dizia o que se esperava que dissesse. Nem sequer o interrogara a respeito do talismã que trazia ainda, oculto junto ao seio.
E ainda bem que assim fora, já que Kossil estivera a ouvir. E depois, que importava isso, que mal podia Kossil fazer? E ainda estava a formular a pergunta para si própria, já sabia a resposta. Nada é mais fácil de matar que um falcão engaiolado. O homem estava impotente, acorrentado dentro da sua gaiola de pedra. A Sacerdotisa do Rei-Deus só tinha de enviar o seu servo Duby para o estrangular naquela noite. E mesmo que ela e Duby não conhecessem o Labirinto até tão longe, bastava-lhe soprar pó-de-veneno pelo orifício de observação para dentro da Sala Pintada. Ela tinha caixas e frascos de maléficas substâncias, algumas para envenenar a comida ou a água, outras que contaminavam o ar e matavam alguém que respirasse esse ar durante muito tempo. E ele estaria morto de manhã c tudo se teria acabado. Não mais voltaria a brilhar uma luz sob os Túmulos.
Arha apressou-se a percorrer os estreitos caminhos de pedra até à entrada pelo Subtúmulo, onde Manane a esperava, agachado pacientemente no escuro, como um velho sapo. O eunuco não estava sossegado com as visitas de Arha ao prisioneiro. Como ela não o deixava ir até junto dele, tinham estabelecido aquele compromisso. Mas agora Arha estava satisfeita por tê-lo à mão. Ao menos nele podia confiar.
— Ouve, Manane. Tens de ir à Sala Pintada imediatamente. Dizes ao homem que o vais levar para ser enterrado vivo por baixo dos Túmulos.
Ao ouvir isto, os olhinhos de Manane faiscaram. Ela continuou:
— Dizes isso em voz alta. Depois, abres o cadeado da corrente e levá-lo…
E aqui interrompeu-se porque não decidira ainda onde melhor poderia esconder o prisioneiro.
— Para o Subtúmulo — disse Manane, animadamente.
— Não, idiota. Eu disse-te para dizeres isso, não para o fazeres. Espera…
Que lugar poderia estar a salvo de Kossil e dos seus espiões? Nenhum a não ser os mais profundos lugares do subsolo, os mais sagrados e melhor ocultos lugares do domínio dos Sem-Nome, onde Kossil não se atreveria a ir. Mas não era Kossil capaz praticamente de tudo? Poderia temer os lugares mais escuros, porém era alguém capaz de dominar o medo para atingir os seus fins? Ninguém saberia dizer até que ponto poderia ela ter aprendido o plano do Labirinto, com Thar ou com Arha da vida anterior ou mesmo através das suas próprias e secretas explorações, realizadas nos anos anteriores. Arha suspeitava de que ela soubesse muito mais do que demonstrava saber. Mas havia um caminho que ela certamente não poderia ter aprendido, o mais bem guardado dos segredos.
— Vais ter de levar o homem até onde eu te conduzir e terás de o fazer no escuro. Depois, quando eu te trouxer de volta aqui, vais abrir uma cova no Subtúmulo e fazer um caixão para lá meter. Em seguida, pões o caixão, vazio, na cova, voltas a encher a cova com terra, mas de maneira a que se possa sentir ao apalpar e descobrir, para o caso de alguém a procurar. Uma cova bem funda. Percebes?
— Não — retorquiu Manane, obstinado e inquieto. — Essa manha não é sensata. Não está bem. Não devia haver um homem aqui! Vai chegar algum castigo e…
— Como o de um velho tonto a ficar sem língua, não é? Atreves-te a dizer-me o que é sensato ou não? Eu sigo as ordens dos Poderes da Treva. Vem comigo!
— Peço perdão, senhorazinha, peço perdão… Regressaram à Sala Pintada. Ali, ela ficou à espera cá fora, no túnel, enquanto Manane entrava e soltava a corrente da argola na parede. Ouviu a voz profunda que dizia:
— E agora para onde, Manane?
E logo a voz rouquejante e aguda do eunuco, a responder de mau grado:
— Vais ser enterrado vivo, disse a minha senhora. Debaixo das Pedras Tumulares. Levanta-te!
E a rapariga ouviu a pesada corrente estalar como uma vergasta.
O prisioneiro saiu, trazendo os braços atados com o cinto de couro de Manane. Este vinha atrás, segurando-o como a um cão com trela curta, mas a coleira estava à roda da sua cintura e a trela era de ferro. Os olhos do mago viraram-se para a rapariga mas ela soprou para apagar a vela e, sem uma palavra, embrenhou-se na escuridão. Tomou imediatamente a passada lenta mas bastante regular que geralmente mantinha no Labirinto, quando não se servia de nenhuma luz, passando muito ao de leve, mas quase constantemente, as pontas dos dedos pelas paredes de ambos os lados. Manane e o prisioneiro seguiam atrás dela, com muito menos segurança por causa da trela, arrastando os pés, tropeçando aqui e ali. Mas era no escuro que tinham de seguir, pois ela não queria que nenhum deles aprendesse aquele caminho.
Voltar à direita depois da Sala Pintada e passar duas aberturas; ir para a direita nos Quatro Caminhos e passar a abertura para a direita; depois um longo caminho em curva e um lance de degraus a descer, longo, escorregadio, demasiado estreito para pés humanos normais. Para lá daqueles degraus nunca ela fora.
O ar era mais estagnado ali, muito parado, com um cheiro penetrante. As indicações estavam claras no seu espírito e até as tonalidades na voz de Thar ao recitá-las. Descer os degraus (atrás dela, o prisioneiro tropeçou naquela escuridão de breu e ela ouviu-o arquejar quando Manane o equilibrou com um forte puxão na corrente) e, ao fundo da escada, virar imediatamente para a esquerda. Manter-se à esquerda, depois passar três entradas, depois tomar pela primeira à direita e a partir daí permanecer encostada à direita. Os túneis tinham curvas e ângulos, nenhum seguia a direito. «Depois tens de tornear o Poço», dizia a voz de Thar na escuridão da sua mente, «e o caminho é muito estreito.»
Arha abrandou o passo, inclinou-se para baixo e apalpou o caminho em frente dela, percorrendo o chão com uma das mãos. O corredor estendia-se agora a direito por uma boa distância, dando ao caminhante uma falsa sensação de segurança. De repente a sua mão, que não cessara de tocar e varrer a rocha à sua frente, sentiu o vazio. Havia um rebordo de pedra, uma beira e, para lá da beira, o nada. Do lado direito, a parede do corredor mergulhava a direito no poço. Para a esquerda, havia um ressalto ou beiral que não teria muito mais que uma mão travessa de largura.
— Há um poço. Ponham-se de frente para a parede, do lado esquerdo, e avancem de lado. Façam deslizar os pés. Mantém a corrente bem segura, Manane… Já estão no rebordo? Vai estreitando. Não assentem o peso do corpo nos calcanhares. Pronto, já passei o poço. Dá-me a tua mão. Isso…
O túnel prosseguia agora em curtos ziguezagues, com muitas aberturas laterais. De algumas destas, ao passarem por elas, o eco dos seus passos soava de maneira estranha, cava. E, mais estranho ainda, sentia-se uma corrente de ar muito leve, como se o ar estivesse a ser chupado. Aqueles corredores deviam terminar em poços semelhantes àquele por onde tinham passado. Talvez houvesse, sob esta parte mais baixa do Labirinto, um lugar oco, uma caverna tão profunda e vasta que a caverna do Subtúmulo seria pequena em comparação, um enorme, um negro vazio interior.
Mas acima desse abismo, onde eles caminhavam pelos escuros túneis, os corredores iam-se tornando lentamente mais estreitos e mais baixos, até que a própria Arha se viu obrigada a andar curvada. Não teria fim aquele caminho?
E o fim surgiu subitamente. Uma porta fechada. Indo inclinada para a frente e um pouco mais depressa que o habitual, Arha foi de encontro a ela, ferindo a cabeça e as mãos. Às apalpadelas, procurou a fechadura e depois, na argola à cinta, a pequena chave de que nunca se servira, a chave de prata com o punho esculpido em forma de dragão. Entrou, rodou. E ela abriu a porta do Grande Tesouro dos Túmulos de Atuan. Uma aragem seca, azeda e apodrecida saiu pela abertura como um suspiro.
— Manane, tu não podes entrar aqui. Espera fora da porta.
— Ele sim, mas eu não?
— Se entrares nesta sala, Manane, não voltarás a sair. É essa a lei para todos menos para mim. Nenhum ser mortal a não ser eu deixou alguma vez esta câmara vivo. Queres entrar?
— Esperarei cá fora — aquiesceu a melancólica voz no meio do negrume. — Senhora, senhora, não feches a porta…
O seu temor enervou-a de tal modo que ela deixou a porta entreaberta. A verdade é que aquele lugar a enchia de um receio sombrio e, por muito preso que o prisioneiro estivesse, sentia alguma desconfiança em relação a ele. Uma vez lá dentro feriu lume. As mãos tremiam-lhe. A vela da lanterna acendeu-se com dificuldade naquele ar fechado e morto. Ao clarão amarelado que parecia brilhante depois da longa travessia da noite, a câmara do tesouro agigantou-se acima deles, cheia de sombras ondulantes.
Havia seis grandes arcas, todas de pedra, todas recobertas por uma espessa camada de uma fina poeira cinzenta, como bolor no pão. Nada mais. As paredes eram grosseiras, o teto baixo. A sala estava fria, um frio profundo e sem ar que parecia fazer parar o sangue no coração. Não havia teias de aranha, só a poeira. Nada ali vivia, absolutamente nada, nem sequer as raras e pequenas aranhas brancas do Labirinto. A poeira era espessa, espessa, e dela cada grão poderia corresponder a um dia que passara, aqui onde não havia tempo nem luz. Dias, meses, anos, milênios, eras, tudo se tornara poeira.
— Era este o lugar que procuravas — disse Arha e a sua voz era firme. — Este é o Grande Tesouro dos Túmulos. Vieste até ele. Não mais o poderás deixar.
Ele nada disse e o seu rosto estava calmo, mas havia nos seus olhos algo que a comoveu. Uma desolação, a expressão de alguém que foi traído.
— Disseste que querias viver. Este é o único lugar que eu conheço onde podes continuar vivo. Kossil matar-te-á ou obrigar-me-á a matar-te, Gavião. Mas aqui ela não pode chegar.
Ainda assim ele nada disse.
— Fosse como fosse, tu nunca poderias ter deixado os Túmulos, não vês isso? Isto não é diferente. E pelo menos chegaste ao… ao fim da tua jornada. O que procuravas está aqui.
Ele sentou-se numa das grandes arcas, parecendo esgotado. A corrente pendente retiniu asperamente contra a pedra. O homem olhou em volta, para as paredes cinzentas e as sombras, depois para Arha.
A rapariga desviou o olhar dele para as arcas de pedra. Não sentia o menor desejo de as abrir. Em nada lhe interessavam as maravilhas que pudessem estar a apodrecer lá dentro.
— Aqui, não precisas de andar com essa corrente — disse Arha e, chegando junto dele, abriu o cinto de ferro e desatou o cinto de couro de Manane que lhe manietava os braços. — Tenho de fechar a porta mas, quando vier, confiarei em ti. Tu sabes que não podes sair, que nem o deves tentar? Eu sou a sua vingança e cumpro a sua vontade. Mas se eu os iludir se tu iludires a minha confiança… então eles próprios se vingarão. Não deves tentar deixar esta sala, atacando-me ou iludindo-me quando aqui vier. Tens de acreditar em mim.
— Farei como dizes — assentiu ele suavemente.
— Trago-te comida e água sempre que puder. Não será muito. A água bastante, mas não muita comida durante algum tempo, porque estou a ficar esfomeada, percebes? Mas será o suficiente para continuares vivo. Não devo poder voltar por um dia ou dois, talvez mais. Tenho de despistar Kossil. Mas virei. Prometo. Aqui tens o cantil. Poupa-o, que eu não posso voltar breve. Mas volto.
Ele ergueu o rosto para ela. A sua expressão era estranha.
— Tem cuidado contigo, Tenar — disse.
8. NOMES
Arha trouxe Manane de regresso pelos caminhos que serpenteavam na escuridão e na escuridão do Subtúmulo o deixou, para que abrisse a cova que ali deveria haver, provando a Kossil que o ladrão fora efetivamente punido. Era tarde e ela foi diretamente para a Casa Pequena, a deitar-se. De noite acordou subitamente. Lembrou-se de que deixara o seu manto na Sala Pintada. Ele não ia ter nada que o aquecesse naquela cave gélida, nem cama para além da pedra poeirenta. Uma fria sepultura, uma fria sepultura, pensou lastimosamente, mas estava demasiado cansada para acordar completamente e em breve recairia no sono. Começou a sonhar. Sonhou com as almas dos mortos nas paredes da Sala Pintada, as figuras semelhantes a grandes aves moles com mãos e pés e rostos humanos, agachadas na poeira dos lugares da escuridão. Não podiam voar. Barro era o seu alimento e pó, a sua bebida. Eram as almas dos não-renascidos, dos povos antigos e dos descrentes, aqueles a quem Aqueles-que-não-têm-Nome devoraram. Agachavam-se ao redor dela nas sombras e um ligeiro chiar ou piar soltava-se deles de vez em quando. Uma das aves chegou-se bem perto dela. A princípio sentiu medo e tentou desviar-se mas não conseguia mover-se. Essa ave tinha um rosto de pássaro, não um rosto humano, mas o seu cabelo era dourado e disse com voz de mulher: «Tenar», ternamente, suavemente, «Tenar».
Acordou. A sua boca estava cheia de barro. Jazia num túmulo de pedra, sob a terra. Tinha os braços e as pernas atados num sudário e não conseguia mover-se nem falar.
O seu desespero aumentou de tal modo que lhe rebentou o peito e, como um pássaro de fogo, estilhaçou a pedra e irrompeu lá fora, à luz do dia — a luz do dia, tênue no seu quarto sem janelas.
Realmente acordada desta vez, sentou-se na cama, esgotada pelos sonhos noturnos, o espírito nublado. Envergou as roupas e dirigiu-se para a cisterna, no pátio murado da Casa Pequena. Mergulhou os braços e o rosto, toda a cabeça, na água gélida, sentindo o corpo estremecer de frio e o sangue correr mais depressa. Depois, lançando para trás o cabelo encharcado, endireitou o corpo e olhou para cima, para o céu matinal.
Não passava ainda muito do amanhecer de um belo dia de Inverno. O céu estava amarelado, muito limpo. Bem alto, tão alto que recebia toda a luz do sol, ardendo como um salpico de ouro, uma ave voava em círculos, um falcão ou uma águia do deserto.
— Eu sou Tenar — disse ela, não em voz alta, e tremeu toda, de frio, de terror e de júbilo, ali, sob o céu aberto, lavado pelo sol. — Tenho de novo o meu nome. Sou Tenar!
O salpico de ouro derivou para ocidente, em direção às montanhas, até ficar fora de vista. O Sol nascente debruava de luz os beirais da Casa Pequena. Lá em baixo, nas encostas, tiniam os badalos das ovelhas. Os cheiros de lenha a queimar e das papas de trigo, vindos das chaminés da cozinha, eram trazidos pelo vento fresco e agradável.
— Tenho tanta fome… Como é que ele sabia? Como foi que soube o meu nome?… Ah, tenho de ir comer. A fome que eu tenho…
Puxou o capuz para cima e correu para o pequeno-almoço.
A comida, depois de três dias de quase jejum, fê-la sentir sólida, deu-lhe lastro. Já não se sentia tão bravia, tão jovial e assustada. Sentiu-se perfeitamente capaz de lidar com Kossil, depois do pequeno-almoço.
Aproximou-se da alta e volumosa figura que saía da sala de jantar da Casa Grande e disse em voz natural:
— Já me ocupei do ladrão… Que belo dia que está!
Os cinzentos olhos frios fitaram-na de lado, das profundezas do capuz negro.
— Pensei que a Sacerdotisa se devia abster de tomar alimento durante os três dias a seguir a um sacrifício humano.
Aquilo era verdade. Arha esquecera-o e o seu rosto mostrou que o esquecera.
— Ainda não está morto — disse por fim, tentando manter o tom de indiferença que tão fácil lhe fora imitar um momento antes. — Está enterrado vivo. Debaixo dos Túmulos. Num caixão. Terá algum ar, porque o caixão não foi selado e é de madeira. Virá muito lentamente, a morte. Quando souber que está morto, então começarei o jejum.
— Como vais saber?
Desorientada, Arha voltou a hesitar.
— Saberei. Os… Os meus Senhores dir-me-ão.
— Estou a ver. E onde é a cova?
— No Subtúmulo. Dei ordem a Manane que a abrisse por baixo da Pedra Macia.
Ela não devia responder tão depressa, nem naquele tom idiota, apaziguador. Com Kossil, tinha de manter a sua dignidade.
— Vivo e num caixão de madeira. É coisa arriscada com um bruxo, senhora. Lembraste-te de lhe tapar a boca para ele não poder recitar encantamentos? Ficou com as mãos atadas? Eles são capazes de tecer feitiços só com o mover de um dedo, mesmo quando lhes cortaram a língua.
— A bruxaria dele não é nada, são só truques — retrucou a rapariga, erguendo a voz. — Está enterrado e os meus Senhores esperam pela sua alma. E o resto não é da tua conta, sacerdotisa!
Desta vez fora demasiado longe. Outros podiam ouvi-la. Penthé e um par de outras raparigas, Duby e a sacerdotisa Mebbeth, estavam todos a uma distância a que podiam escutar. As raparigas eram todas ouvidos e Kossil estava ciente disso.
— Tudo o que aqui acontece é da minha conta, senhora. Tudo o que acontece neste reino é da conta do Rei-Deus, o Homem Imortal a cujo serviço estou. Mesmo nos lugares subterrâneos e nos corações dos humanos ele procura e vê, e ninguém poderá vedar-lhe a entrada!
— Eu vedá-la-ei. Nos Túmulos ninguém entra se Aqueles-que-não-têm-Nome o proibirem. Existiam antes do teu Rei-Deus e hão de existir depois dele. Fala deles com suavidade, sacerdotisa. Não chames sobre ti a sua vingança, ou surgirão nos teus sonhos, entrarão nos recantos sombrios da tua mente e enlouquecerás.
Os olhos da rapariga flamejavam. O rosto de Kossil estava oculto, recolhido para dentro do capuz negro. Penthé e as outras observavam, temerosas e cativadas.
— São velhos — soou a voz de Kossil, não alta, antes como um sibilante fio de som a desprender-se de dentro do capuz. — São velhos. O seu culto foi esquecido, salvo num único lugar. O seu poder desvaneceu-se. São apenas sombras. Já não detêm poder algum. Não tentes atemorizar-me, ó Devorada. Tu és a Primeira Sacerdotisa. Não significa isso também que és a última?… Não consegues iludir-me. Eu vejo o que vai no teu coração. A escuridão nada consegue ocultar de mim. Tem cuidado contigo, Arha!
Voltou costas e seguiu caminho, como os seus passos maciços e deliberados a esmagarem as ervas com as suas estrelas de geada sob os pés pesados, calçados de sandálias, dirigindo-se para a casa de pilares brancos do Rei-Deus.
A rapariga permaneceu no mesmo lugar, como se pregada ao chão, ereta, um vulto delgado e escuro, no pátio da frente da Casa Grande. Ninguém se movia, nada se movia, a não ser Kossil, em toda a vasta paisagem de pátio e templo, de colina e planície desértica e montanha.
— Que os Poderes da Treva te consumam a alma, Kossil! — bradou Arha numa voz semelhante ao grito do falcão e, erguendo o braço com a mão rigidamente estendida, lançou a maldição sobre as costas volumosas da sacerdotisa, precisamente quando ela punha o pé no primeiro degrau do seu templo. Kossil cambaleou, mas não parou nem se voltou. Seguiu em frente e atravessou a porta do Rei-Deus.
Arha passou todo esse dia sentada no degrau mais baixo do Trono Vazio. Não se atreveu a entrar no Labirinto e não queria a companhia das outras sacerdotisas. Tomara-a uma opressão que a manteve ali, hora após hora, no frio poeirento da grande sala. Olhava os pares de espessas e pálidas colunas que se perdiam nas trevas, lá no fundo distante da sala, e os raios de luz do dia que se infiltravam pelos buracos do teto, e as densas volutas do fumo de carvão a elevarem-se das trípodes de bronze, perto do Trono. Fazia desenhos com os ossinhos de rato na escada de mármore, a cabeça pendida, a mente ativa e, no entanto, entorpecida. «Quem sou eu?», perguntava a si própria e não obtinha resposta.
Arrastando os pés, Manane aproximou-se, atravessando a sala por entre as duplas filas de colunas, quando a luz havia muito deixara de cintilar sobre a escuridão e o frio se tornara intenso. No rosto empastado de Manane havia uma grande tristeza. Deixou-se ficar a alguma distância dela, as grandes mãos pendendo aos lados do corpo. A bainha rasgada do seu manto acastanhado balançava-lhe junto a um calcanhar.
— Senhorazinha.
— O que é, Manane? — perguntou ela, olhando-o com um afeto baço.
— Pequenina, deixa-me fazer o que tu disseste… o que tu disseste que tinha sido feito. Ele tem de morrer, pequenina. Ele enfeitiçou-te. A Kossil não passa sem se vingar. Ela é velha e cruel e tu demasiado jovem. Não tens força suficiente.
— Ela não pode causar-me mal.
— Se ela te matasse, ainda que fosse à vista de todos, às claras, não há ninguém em todo o Império que se atrevesse a puni-la. Ela é a Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus e é o Rei-Deus que governa. Mas ela não te matará às claras. Vai ser a ocultas, com veneno, de noite.
— Então eu voltarei a nascer.
Manane retorceu as mãos.
— Talvez ela não te mate — sussurrou.
— Que queres tu dizer?
— Ela podia fechar-te numa sala no… lá em baixo… Como tu lhe fizeste a ele. E ficarias viva talvez durante anos e anos. Anos… E não nasceria Sacerdotisa nenhuma porque tu não estarias morta. Mas também não haveria Sacerdotisa dos Túmulos e as danças da lua nova não seriam dançadas, os sacrifícios não seriam feitos, o sangue não seria derramado e o culto dos Senhores da Treva podia ser esquecido, para sempre. Ela e o Senhor que ela serve bem gostariam que assim fosse.
— Mas eles libertar-me-iam, Manane.
— Não enquanto estiverem irados contra ti, senhorazinha, — segredou Manane.
— Irados?…
— Por causa dele… O sacrilégio que não foi remido. Ai, pequenina, pequenina! Eles não perdoam!
Ela permaneceu sentada na poeira do degrau de baixo, deixando pender a cabeça. Olhou para uma coisa minúscula que segurava na palma da mão, a diminuta caveira de um rato. Os mochos nas traves sobre o Trono agitaram-se ligeiramente. Ia escurecendo à aproximação da noite.
— Não desças ao Labirinto esta noite — aconselhou Manane muito baixinho. — Vai para a tua casa e dorme. De manhã vai ter com Kossil e diz-lhe que retiras dela a maldição. E isso bastará. Não precisas de te afligir. Eu mostrar-lhe-ei a prova.
— Prova?
— De que o bruxo está morto.
Arha permaneceu muito quieta. Lentamente, fechou a mão e a frágil caveira estalou e desfez-se. Quando abriu a mão, apenas havia nela esquírolas de osso e pó.
— Não — disse. E varreu a poeira da mão.
— Mas ele tem de morrer. Ele lançou um feitiço sobre ti. Estás perdida, Arha!
— Ele não lançou nenhum feitiço sobre mim. Tu és velho e medroso, Manane. Deixas-te assustar por mulheres velhas. Como julgas tu que chegarias junto dele e o matarias e arranjarias a tua «prova»? Conheces o caminho que leva até ao Grande Tesouro, aquele que percorreste no escuro a noite passada? És capaz de contar as voltas e chegar aos degraus? E depois ao poço e à porta? Podes abrir essa porta?… Ah, pobre e velho Manane, o teu entendimento está todo perro. Kossil assustou-te. Ora vai lá para a Casa Pequena, dorme e esquece tudo isto. Pára de me atormentar com tanta conversa acerca de morte… Mais logo eu vou. Anda, desanda daqui, meu velho tonto.
A rapariga erguera-se e, suavemente, empurrou o largo peito de Manane, dando-lhe palmadinhas e impelindo-o para que se fosse.
— Vá. Boa noite. Boa noite!
Ele virou costas, com relutância e apreensão, mas obediente, e lá se arrastou ao longo da sala, sob as colunas e o teto em ruínas. Ela ficou a vê-lo ir embora.
Algum tempo depois de o eunuco ter saído, a rapariga virou-se, deu a volta ao dossel do Trono e desapareceu no negrume por detrás dele.
9. O ANEL DE ERRETH-AKBE
No Grande Tesouro dos Túmulos de Atuan, o tempo não passava. Não havia luz, nem vida, nem o mínimo movimento de aranha na poeira ou de verme na terra fria. Rocha, negrume e tempo sem passar.
Na tampa de pedra de um grande cofre, o ladrão das Terras Interiores jazia estendido de costas, como figura esculpida sobre um túmulo. O pó que os seus movimentos haviam erguido assentara sobre as suas roupas. Ele não se movia.
A fechadura da porta soltou um ruído seco. A porta abriu-se. Uma luz quebrou o negrume e um sopro mais fresco agitou o ar estagnado. O homem jazia inerte.
Arha fechou a porta e aferrolhou-a por dentro, pousou a lanterna sobre uma das arcas e aproximou-se da figura imóvel. Avançava receosamente, os olhos muito abertos, as pupilas dilatadas ainda da sua longa caminhada pela escuridão.
— Gavião!
Tocou-lhe o ombro e de novo pronunciou o seu nome e uma vez ainda.
Ele agitou-se então ligeiramente e como que gemeu. Por fim ergueu o tronco, o rosto contorcido, o olhar vazio. Fitou-a como se não a reconhecesse.
— Sou eu, Arha… Tenar. Trouxe-te água. Toma, bebe. Desajeitadamente, como se as tivesse entorpecidas, ele estendeu as mãos para o cantil e bebeu, mas não avidamente.
— Quanto tempo passou? — perguntou, falando com dificuldade.
— Dois dias desde que vieste para esta sala. Esta é a terceira noite. Não pude vir antes. Tive de roubar a comida… está aqui…
E tirou um dos pães cinzentos, achatados, de dentro do bornal que trouxera, mas ele abanou a cabeça numa negativa.
— Não tenho fome. Este… este lugar é mortal.
Pôs a cabeça entre as mãos e ficou de novo imóvel.
— Estás com frio? Eu trouxe o meu manto da Sala Pintada. Mas ele não respondeu.
A rapariga pousou o manto e ficou a olhar o homem. Tremia um pouco, os seus olhos continuavam escuros e muito abertos.
E de repente caiu de joelhos, dobrou-se para a frente e começou a chorar, com profundos soluços que lhe contorciam o corpo mas em que não havia lágrimas.
Ele desceu rigidamente do cofre e inclinou-se sobre ela.
— Tenar — disse.
— Eu não sou Tenar. Eu não sou Arha. Os deuses estão mortos, os deuses estão mortos.
Ele pousou-lhe as mãos na cabeça, puxando-lhe o capuz para trás, e começou a falar. A sua voz era suave e as palavras numa língua que ela nunca antes ouvira. O seu som penetrou-lhe o coração como chuva caindo. Aquietou-se para ouvir.
Quando ela acalmou, ele levantou-se do chão e colocou-a, como uma criança, no grande cofre onde estivera deitado. Depois pousou a mão nas dela.
— Porque choraste, Tenar?
— Eu digo-te. Porque não interessa o que te diga. Tu não podes fazer nada. Não podes ajudar. Também estás a morrer, não estás? Portanto não importa. Nada importa. Kossil, a Sacerdotisa do Rei-Deus, foi sempre cruel, só a tentar fazer com que eu te matasse. Da mesma maneira que matei aqueles outros. E eu não queria. Que direito tem ela? E então ela desafiou Aqueles-que-não-têm-Nome e troçou deles. E eu lancei-lhe uma maldição. E a partir daí tenho estado com medo dela, porque é verdade o que o Manane disse, ela não acredita nos deuses. Quer que eles sejam esquecidos e havia de me matar quando eu estivesse a dormir, de maneira que eu não dormi. Não voltei para a Casa Pequena. Fiquei na Mansão toda a noite passada, numa das divisões mais pequenas, aquela onde se guardam as vestimentas para as danças. Antes de clarear o dia, fui até à Casa Grande, roubei alguma comida da cozinha e depois voltei para a Mansão e fiquei lá todo o dia. Estive a tentar decidir o que havia de fazer. E esta noite… esta noite estava tão cansada que pensei que podia ir para um lugar sagrado e dormir, que ela teria receio de lá ir. De maneira que desci para o Subtúmulo. Aquela grande caverna onde te vi pela primeira vez. E… e ela estava lá. Devia ter entrado pela porta da rocha vermelha. Estava lá com uma lanterna. A remexer na cova que o Manane tinha aberto, para ver se lá havia algum corpo. Parecia um rato num cemitério, um grande rato preto, a escavar. E a luz a arder no Lugar Sagrado, no lugar das trevas. E Aqueles-que-não-têm-Nome nada fizeram. Não a mataram nem a fizeram endoidecer. Estão velhos, como ela disse. Estão mortos. Foram-se todos. Já não sou sacerdotisa nenhuma.
O homem, imóvel, ouvi-a, a mão ainda sobre as dela, a cabeça um pouco inclinada. Regressara algum vigor ao seu rosto, à sua postura, embora as cicatrizes no seu rosto tivessem adquirido uma lividez acinzentada e houvesse ainda poeira nas suas roupas e no cabelo.
— Passei por ela, atravessando o Subtúmulo. A lanterna fazia mais sombras que luz e ela não me ouviu. Eu só queria entrar no Labirinto para me afastar dela. Mas depois de ter entrado, estava sempre com a impressão de que a ouvia a seguir-me. Ao longo de todos os corredores, nunca deixei de ouvir alguém atrás de mim. E não sabia para onde havia de ir. Julguei que estaria a salvo aqui, que os meus Senhores me protegeriam e defenderiam. Mas não. Desapareceram, estão mortos…
— Foi por eles que choraste, pela sua morte? Mas eles estão aqui, Tenar, aqui!
— Como podes saber isso? — disse ela, apaticamente.
— Porque a cada instante desde que entrei na caverna sob as Pedras Tumulares me tenho esforçado por mantê-los imóveis, por mantê-los ignorantes. Todas as minhas capacidades foram usadas para isso, foi para isso que esgotei a minha força. Enchi estes túneis com uma rede infindável de encantamentos, encantamentos de dormir, de quietude, de ocultação, e mesmo assim eles continuam conscientes da minha presença, meio conscientes. Meio adormecidos, meio acordados. E assim mesmo estou quase completamente gasto de lutar contra eles. Este é o mais terrível dos lugares. Aqui, um homem sozinho não pode ter esperança. Eu morria de sede quando me deste água, mas não foi apenas a água que me salvou. Foi a força das mãos que a deram.
Ao pronunciar estas palavras, ele virou-lhe a palma da mão para cima, na sua própria mão, por um momento, de olhar preso nela. Depois voltou costas, deu alguns passos pela câmara e voltou a parar diante dela. A rapariga nada disse.
— Julgaste realmente que estivessem mortos? Dentro de ti, sabes bem qual é a verdade. Eles não morrem. São sombrios, não morrem e odeiam a luz, a breve e brilhante luz da nossa mortalidade. São imortais, mas não são deuses. Nunca o foram. Não merecem a adoração de nenhuma alma humana.
A rapariga ouvia-o, os olhos pesados, fixos na luz trêmula da lanterna.
— Que te deram eles alguma vez, Tenar?
— Nada — sussurrou ela.
— Eles nada têm para dar. Não têm o poder de fazer. Todo o seu poder é para estabelecer a treva e a destruição. E não podem deixar este lugar. Eles são este lugar e devia ser-lhes deixado. Não devem ser negados nem esquecidos. Mas também não devem ser adorados. A Terra é bela, brilhante e amiga, mas isso não é tudo. Porque a Terra é também terrível e escura e cruel. O coelho guincha ao encontrar a morte nos verdes prados. As montanhas enclavinham as mãos enormes, cheias de fogo oculto. Há tubarões nos mares e crueldade nos olhos dos homens. E onde os homens rendem culto a estas coisas e se prosternam perante elas, ai se gera o mal. E constroem-se lugares no mundo onde o negrume se condensa, lugares totalmente dedicados a Esses a quem nós chamamos Sem-Nome, os antigos e sagrados Poderes da Terra antes da Luz, os poderes da escuridão, da ruína, da loucura… Penso que terão enlouquecido a vossa sacerdotisa Kossil há muito já. Penso que ela terá vagueado, como o caçador atrás da presa, por estas cavernas, tal como vagueia pelo labirinto do seu próprio ser, e agora já não consegue ver a luz do dia. Ela disse que Aqueles-que-não-têm-Nome estão mortos, mas só uma alma perdida, perdida para a verdade, poderia acreditar em tal. Eles existem. Mas não são os teus Senhores. Nunca o foram. Tu és livre, Tenar. Ensinaram-te a ser escrava, mas quebraste as tuas correntes.
E ela escutava-o, embora a sua expressão não se alterasse. Ele nada mais disse. Ficaram em silêncio. Mas não era já o silêncio que pesara naquela câmara antes de ela entrar. Havia agora o respirar de ambos, o movimento da vida nas suas veias e o crepitar da vela na sua lanterna de estanho, um som minúsculo e pleno de vida.
— Como é possível que saibas o meu nome?
Ele pôs-se a andar de um lado para o outro, levantando a poeira finíssima, esticando os braços e os ombros, no esforço de se libertar do frio entorpecedor.
— Saber nomes é a minha tarefa. A minha arte. Para tecer a magia de uma coisa, sabes, é preciso desvendar o seu nome verdadeiro. Nas terras de onde venho, mantemos durante toda a vida os nossos nomes ocultos de todos, menos daqueles em quem confiamos totalmente. Porque num nome há grande poder, e grande perigo. Houve uma altura, no princípio dos tempos, quando Segoy ergueu as ilhas de Terramar do fundo do oceano, em que todas as coisas ostentavam os seus verdadeiros nomes. E tudo o que é fazer magia, toda a feitiçaria, depende ainda hoje do conhecimento, do reaprender, do relembrar, dessa verdadeira e antiga linguagem da Edificação. É claro que há encantamentos a aprender, maneiras de usar as palavras. E é também necessário saber as conseqüências. Mas no que um feiticeiro leva a sua vida é a descobrir os nomes das coisas e a descobrir formas de descobrir os nomes das coisas.
— Mas como descobriste o meu?
Ele olhou-a por um momento, num relancear profundo e límpido a atravessar as trevas entre eles. Hesitou um momento e depois disse:
— Isso não te posso dizer. Tu és como uma lanterna enfaixada e coberta, oculta num local cheio de sombra. E no entanto a luz brilha. Não conseguiram apagar a luz. Não conseguiram ocultar-te. Tal como conheço a luz, tal como te conheço, assim conheço o teu nome, Tenar. Esse é o meu dom, o meu poder. Mais não te posso dizer. Mas diz-me tu. O que farás agora?
— Não sei.
— Nesta altura já Kossil encontrou uma sepultura vazia. O que irá ela fazer?
— Não sei. Se eu voltar lá para cima, pode mandar matar-me. A punição para uma Grã-Sacerdotisa que minta é a morte. Se quisesse podia mandar sacrificar-me nos degraus do Trono. E, desta vez, Manane teria realmente de me decepar a cabeça, em vez de se limitar a levantar a espada e esperar que a figura de Negro o fizesse parar. Não, desta vez não parava. Viria até abaixo e cortava-me a cabeça.
A sua voz soava inexpressiva e lenta. Ele enrugou a testa e disse:
— Se ficarmos aqui por muito tempo, Tenar, acabarás por endoidecer. A ira d’Aqueles-que-não-têm-Nome oprime a tua mente. E a minha também. É melhor agora que estás aqui, muito melhor. Mas passou muito tempo antes que viesses e eu esgotei quase toda a minha energia. Sozinho, ninguém pode opor-se durante muito tempo aos Senhores da Treva. São demasiado fortes.
Parou. A sua voz enfraquecera muito e ele parecia ter perdido o fio ao discurso. Esfregou a testa com as mãos e, de imediato, foi uma vez mais beber do cantil. Arrancou um pedaço de pão e foi sentar-se no cofre oposto a comê-lo.
O que ele dizia era verdade. A rapariga sentia um peso, uma pressão no seu espírito, que parecia escurecer e confundir sentimentos e idéias. No entanto, não estava aterrada, como quando viera sozinha através dos corredores. Só o absoluto silêncio fora da sala parecia terrível. Porque seria isso? Ela nunca temera o silêncio do subsolo antes. Mas também nunca antes desobedecera Àqueles-que-não-têm-Nome, nunca se lhes opusera.
Finalmente, soltou uma risadinha que soou como um queixume.
— Aqui estamos nós sentados em cima do maior tesouro de todo o Império — comentou. — O Rei-Deus era capaz de dar todas as suas mulheres por um só destes cofres. E nós ainda nem levantamos uma das tampas para olhar.
— Eu levantei — disse o Gavião, continuando a mastigar.
— No escuro?
— Fiz alguma luz. O fogo-fátuo. Foi difícil de conseguir, aqui dentro. Mesmo com o meu bordão não teria sido fácil mas, sem ele, foi como se estivesse a tentar fazer uma fogueira com lenha molhada e debaixo de chuva. Mas por fim consegui. E encontrei o que tinha vindo procurar.
Ela ergueu lentamente o rosto para o olhar.
— O anel?
— O meio anel. A outra metade tens tu.
— Eu é que tenho? A outra metade perdeu-se…
— E foi encontrada. Eu trazia-a numa corrente à volta do pescoço. Tu tiraste-me e perguntaste se eu não tinha conseguido arranjar um talismã melhor. O único talismã melhor que metade do Anel de Erreth-Akbe seria o anel inteiro. Mas, como se costuma dizer, meio pão é melhor que pão nenhum. De maneira que tu agora tens a minha metade e eu a tua. E sorriu-lhe por entre as sombras do túmulo.
— Disseste, quando to tirei, que eu não sabia o que fazer com ele.
— Era verdade.
— E tu sabes?
Ele assentiu com um aceno de cabeça.
— Diz-me. Diz-me o que é o anel e como conseguiste encontrá-lo, e como vieste até aqui e porquê. Tenho de saber tudo isso. Depois, talvez veja o que hei de fazer.
— Talvez vejas, sim. Muito bem. O que é ele, o anel de Erreth-Akbe? É fácil de ver que não parece coisa preciosa, e que nem sequer é um anel. É demasiado grande. Uma pulseira, talvez, mas para isso parece pequeno de mais. Ninguém sabe para quem foi feito. Elfarran, a Bela, usou-o em tempos, antes que a Ilha de Soléa se perdesse no fundo do oceano e já era antigo quando ela o usou. E por fim chegou às mãos de Erreth-Akbe… O metal é prata endurecida e tem nove orifícios. Há um desenho semelhante a ondas feito a buril no exterior e nove Runas de Poder na parte interna. Na metade que tu tens há quatro runas e uma parte de outra e na minha a mesma coisa. Ao quebrar, foi exatamente a atravessar esse único símbolo e destruiu-o. E assim que lhe têm chamado, desde então, a Runa Perdida. Os outros oito são do conhecimento dos Magos. Pirr que protege da loucura bem como do vento e do fogo, Ges que confere resistência e assim por diante. Mas a runa quebrada era a que unia as terras. Era a Runa-Elo, o signo do domínio, o signo da paz. Nenhum rei poderia governar bem se não o fizesse sob a égide desse signo. Ninguém sabe como foi escrito. Desde que se perdeu, não voltou a haver grandes reis em Havnor. Tem havido príncipes e tiranos. Tem havido guerras e desavenças entre todas as terras de Terramar. Por isso os senhores mais sábios e os Magos do Arquipélago queriam o anel de Erreth-Akbe, a fim de restaurarem a runa perdida. Mas, por fim, desistiram de continuar a enviar homens a procurá-lo, dado que nenhum conseguia resgatar a metade que estava nos Túmulos de Atuan, e a outra metade, que Erreth-Akbe dera a um rei karguiano, há muito se perdera. Resolveram que a busca era inútil. Isto passou-se há muitas centenas de anos.
O Gavião fez uma curta pausa e logo prosseguiu:
— Ora a metade veio parar às minhas mãos assim. Era eu pouco mais velho que tu és agora, andava numa perseguição… numa espécie de caçada através do mar. Aquilo que eu perseguia iludiu-me, de maneira que fui lançado para uma ilha deserta, não muito longe das costas de Karego-at e de Atuan, para sudoeste daqui. Era um pequeno ilhéu, pouco mais que um banco de areia, com longas dunas cobertas de plantas rasteiras no meio, uma fonte de água salobra e nada mais. No entanto, viviam ali duas pessoas. Dois velhos, um homem e uma mulher, irmãos, creio. Estavam aterrados com a minha presença. Já não viam outro rosto humano há… sei lá quanto! Anos, dezenas de anos. Mas eu precisava de ajuda e eles foram bons para mim. Tinham uma cabana de madeiras trazidas pelo mar e um fogo. A mulher deu-me comida, mexilhões que apanhava das rochas na maré baixa, carne seca de aves que matavam atirando-lhes pedras. Ela tinha medo de mim mas, mesmo assim, deu-me de comer. Depois, como eu não fazia nada que a pudesse atemorizar, acabou por confiar em mim e mostrou-me o seu tesouro. Também ela tinha um tesouro… Era um vestido pequeno. Todo feito de seda, recamada de pérolas. Um vestido de criança, um vestido de princesa. E ela vestia-se com peles de foca por curtir. Não podíamos conversar. Nessa altura eu não sabia a língua de Karg e eles não conheciam a língua do Arquipélago e muito pouco da sua própria língua. Devem ter sido levados para ali ainda muito pequenos e abandonados para morrer. Não sei por que motivos e duvido de que eles os conhecessem. Nada conheciam, para além da ilha, do mar e do vento. Mas quando me vim embora, ela deu-me um presente. Deu-me a metade perdida do Anel de Erreth-Akbe.
De novo fez uma pausa.
— Sabia tanto do que se tratava como ela. Era o maior presente possível nesta era do mundo e foi dado por uma pobre mulher, velha, tonta e vestida de peles de foca, a um rústico idiota que o enfiou no bolso, disse obrigado e zarpou dali… Bom, lá segui e fiz o que tinha a fazer. Depois surgiram outras coisas e eu fui até ao Passo dos Dragões, e para ocidente, e assim. Mas mantive sempre aquilo comigo porque sentia gratidão por aquela velha que me dera o único presente que tinha para dar. Passei uma corrente por um dos orifícios que o atravessavam, habituei-me a usá-lo ao pescoço e nunca mais pensei em tal. E depois, certo dia, em Selidor, a Mais Longínqua Ilha, a terra onde Erreth-Akbe morreu em combate com o dragão Orm… em Selidor, dizia, falei com um dragão que era da linhagem de Orm. E ele disse-me o que eu trazia sobre o peito. Achou muito engraçado que eu não soubesse. Os dragões acham-nos divertidos. Mas lembram-se de Erreth-Akbe e, dele, falam como se de um dragão se tratasse, não de um homem. Quando regressei às Ilhas Interiores, fui finalmente a Havnor. Eu tinha nascido em Gont, que não fica muito longe a ocidente das vossas terras karguianas e vagueara bastante desde então, mas nunca estivera em Havnor. Era tempo de lá ir. Vi as torres brancas e falei com os grandes homens, os mercadores e os príncipes e os senhores dos antigos domínios. Disse-lhes o que tinha comigo. Disse-lhes que, se assim quisessem, iria em busca do resto do anel nos Túmulos de Atuan, a fim de encontrar a Runa Perdida, a chave para a paz. Porque precisamos seriamente de paz no mundo. Todos me louvaram muito. E um deles até me deu dinheiro para que eu provesse o meu barco. De modo que aprendi a vossa língua e vim até Atuan.
Calou-se, com o olhar perdido nas sombras à sua frente.
— Mas as pessoas nas nossas vilas não viam que eras do ocidente, pela cor da tua pele, pelo modo de falar?
— Ah, é fácil iludir as pessoas — respondeu o Gavião, distraidamente —, desde que se saibam os truques. Fazem-se algumas mudanças-de-ilusão e só outro Mago será capaz de ver através delas. E aqui, nas terras karguianas, vocês não têm feiticeiros nem Magos. É uma coisa estranha. Vocês baniram todos os vossos feiticeiros há muito tempo e proibiram que se praticasse a Arte Mágica. E agora já quase não acreditam em nada disso.
— Eu fui ensinada a não acreditar. E contrário aos ensinamentos dos Reis Sacerdotes. Mas sei que só por magia podes ter entrado nos Túmulos e pela porta da rocha vermelha.
— Não foi só feitiçaria, mas também bons conselhos. Sabes ler?
— Não. É uma das artes negras.
— Mas muito útil — retorquiu ele, com um aceno de cabeça. — Um antigo ladrão, que não teve êxito, deixou certas descrições dos Túmulos de Atuan e indicações para se poder entrar, caso alguém soubesse usar as Grandes Encantamentos de Abrir. Tudo isto estava escrito num livro, no tesouro de um príncipe de Havnor. Ele deixou que o lesse. E foi assim que consegui alcançar a caverna grande.
— O Subtúmulo.
— O ladrão que escreveu as indicações para entrar julgava que o tesouro estava lá, no Subtúmulo. Portanto, procurei por ali mas tinha a sensação de que devia estar mais bem escondido, mais para dentro do dédalo. Eu conhecia a entrada para o Labirinto e, quando te vi, entrei lá, pensando esconder-me e procurar. É claro que isso foi um erro. Aqueles-que-não-têm-Nome já se tinham apoderado de mim, confundindo-me as idéias. E desde aí tenho vindo a ficar cada vez mais fraco e mais estúpido. Não nos devemos submeter a eles, devemos resistir, manter o nosso espírito sempre forte e seguro. Aprendi isso há muito tempo. Mas aqui, onde eles são tão fortes, é difícil consegui-lo. Não são deuses, Tenar. Mas são mais fortes que qualquer homem.
Durante longo tempo ficaram ambos silenciosos. Depois, numa voz átona, ela perguntou:
— Que mais encontraste nas arcas do tesouro?
— Inutilidades. Ouro, pedrarias, coroas, espadas. Nada a que homem vivo algum tenha o menor direito… Diz-me uma coisa, Tenar. Como foste tu escolhida para seres a Sacerdotisa dos Túmulos?
— Quando a Primeira Sacerdotisa morre, vão em busca por toda a Atuan de uma criança do sexo feminino que tenha nascido na noite em que a Sacerdotisa morreu. E encontram sempre uma. Porque é a Sacerdotisa renascida. Quando a criança chega aos cinco anos, trazem-na para aqui, para o Lugar. E ao fazer os seis, é oferecida aos Senhores da Treva que lhe devoram a alma. E assim pertence-lhes e sempre lhes pertenceu, desde o princípio dos tempos. E não tem nome.
— Acreditas nisso?
— Sempre acreditei.
— Mas acreditas agora?
Ela nada disse.
Uma vez mais o silêncio ensombrado caiu entre eles. Passado muito tempo, ela disse-lhe:
— Conta-me… conta-me dos dragões, no Ocidente.
— Tenar, que vais tu fazer? Não podemos ficar aqui a contar histórias um ao outro até que a vela se apague e a escuridão regresse de novo.
— Mas eu não sei o que fazer. Tenho medo. — Sentada muito direita na arca de pedra, enclavinhou as mãos uma na outra e, como alguém que sofre uma dor, confessou alto: — Tenho medo do escuro.
Suavemente, ele respondeu:
— Tens de fazer uma escolha. Ou me deixas, fechas a porta, sobes aos teus altares e me entregas aos teus Senhores. E depois vais ter com Kossil, fazes as pazes com ela… e esse é o fim da história. Ou então abres a porta e sais comigo. Deixa os Túmulos, deixa Atuan e vem comigo até ao outro lado do mar. E esse é o início da história. Tu tens de ser ou Arha ou Tenar. Não podes ser as duas.
A voz profunda era amiga e segura. Por entre as sombras, ela olhou-lhe o rosto, um rosto duro e sulcado de cicatrizes, mas onde não havia crueldade nem engano.
— Se eu abandonar o serviço dos Senhores da Treva, eles matam-me. Se deixar este lugar, morro.
— Não. Tu não morres. É Arha que morre.
— Não posso…
— Para renascer é preciso morrer, Tenar. Não é tão difícil como parece visto do outro lado.
— Eles nunca nos deixariam sair daqui. Nunca.
— Talvez não. Mas, mesmo assim, vale a pena tentar. Tu tens o saber, eu tenho a perícia e os dois juntos temos…
Ele fez uma pausa e a rapariga disse:
— O Anel de Erreth-Akbe.
— Sim, também. Mas também pensei numa outra coisa que há entre nós. Chama-lhe confiança… É um dos nomes que tem. E é uma coisa muito grande. Embora cada um de nós, por si, seja fraco, tendo isso, essa confiança, somos fortes, mais fortes que os Poderes da Treva.
Os olhos brilhavam-lhe, claros, na cara sulcada de cicatrizes. E continuou:
— Escuta, Tenar! Vim até aqui como um ladrão, um inimigo, armado contra ti. E tu foste clemente para comigo e confiaste em mim. Mas também eu confiei em ti desde o primeiro momento em que vi o teu rosto, apenas por um momento na caverna sob os Túmulos, belo na escuridão. Já deste provas da confiança que tens em mim, mas eu ainda não retribuí. Dar-te-ei o que tenho para dar. O meu nome-verdadeiro é Gued. E isto é teu para que o guardes contigo.
Erguera-se e estendia-lhe um semicírculo de prata, perfurado com vários orifícios e cinzelado.
— Que se reúnam as partes do anel — disse ele.
A rapariga recebeu a metade da mão de Gued. Retirou do pescoço a corrente de prata de onde pendia a outra metade e soltou-a. Colocou as duas metades na palma da mão, com as arestas quebradas a tocarem-se, e o anel parecia inteiro.
Ela não ergueu o rosto.
— Irei contigo — disse.
10. A IRA DA TREVA
Ao ouvir aquelas palavras, o homem chamado Gued pôs a mão sobre a dela, a que segurava o talismã quebrado. Sobressaltada, a rapariga ergueu os olhos e viu-o transbordando de vida e glória, sorrindo. Tomou-a uma consternação, um receio dele. Mas o feiticeiro disse:
— Libertaste-nos a ambos. Sozinho, ninguém conquista a liberdade. Anda. Não percamos tempo, enquanto ainda tivermos tempo! Mostra-me outra vez, só por um momento.
A rapariga fechara os dedos sobre os dois pedaços de prata mas, ao pedido dele, voltou a abrir a mão e a estendê-la, ainda com as arestas quebradas a tocarem-se.
Ele não pegou nos pedaços, limitando-se a pôr os dedos sobre eles. Disse duas palavras que ela não entendeu e, subitamente, o suor brotou-lhe do rosto. De imediato, a rapariga sentiu na mão um ligeiro e estranho tremor, como se um animalzinho ali adormecido se movesse. Gued suspirou. A sua postura tensa descontraiu-se e ele limpou a fronte.
— Pronto — disse. E, pegando no Anel de Erreth-Akbe, fê-lo deslizar sobre os dedos da mão direita da rapariga, com alguma estreiteza pela própria mão e logo subindo, a abraçar o pulso.
— Pronto! — repetiu, olhando o anel com satisfação. — Serve-te. Deve ser uma pulseira de mulher, ou de criança.
— Irá agüentar? — murmurou ela, nervosamente, apalpando a tira de prata que deslizava, fria e delicada, no seu braço delgado.
— Vai, sim. Eu não podia lançar uma simples encantamento de consertar sobre o Anel de Erreth-Akbe, como uma bruxa de aldeia a remendar uma chaleira. Tive de usar uma encantamento de configurar para o deixar inteiro. E agora está intacto como se nunca tivesse sido quebrado. Tenar, temos de ir. Eu levo o saco e o frasco. Põe o teu manto. Falta mais alguma coisa?
Estava ela já a remexer na porta, para a abrir, quando ele disse:
— Quem me dera ter o meu bordão.
Ao que ela retorquiu, sempre num murmúrio:
— Está mesmo aí, fora da porta. Eu trouxe-o.
— E porque foi que o trouxeste? — inquiriu ele com curiosidade.
— Tinha pensado em… em levar-te até à porta. Em deixar-te partir.
— Essa era uma escolha que não te cabia. Podias manter-me escravo e ser uma escrava. Ou libertares-me e ficares livre comigo. Anda, pequenina, toma coragem, dá volta à chave.
Ela fez rodar a chave com o seu dragão esculpido e abriu a porta para o corredor baixo e negro. Saiu da Sala do Tesouro dos Túmulos com o anel de Erreth-Akbe a envolver-lhe o braço e o homem seguiu-a.
Havia uma surda vibração, algo que não chegava a ser ruído, na rocha das paredes, chão, abóbada. Era como um trovejar muito ao longe, como algo enorme a cair a uma grande distância.
O cabelo da rapariga pôs-se em pé e, sem parar para pensar, ela soprou a vela da lanterna de estanho. Ouviu, por trás de si, o homem a movimentar-se. A sua voz calma disse, tão perto que a respiração lhe agitou o cabelo:
— Deixa a lanterna. Eu posso fazer luz se for necessário. Que horas são lá fora?
— Já passava muito da meia-noite quando vim.
— Então temos de seguir.
Mas não se moveu e a rapariga percebeu que tinha de o guiar. Só ela conhecia o caminho de saída do Labirinto e ele estava à espera para a seguir. Começou a caminhar, vergando o dorso porque ali o túnel era muito baixo, mas mantendo um andamento bastante rápido. De passagens invisíveis que lhes atravessavam o caminho vinha um sopro frio e um odor penetrante, bafento, o cheiro sem vida do enorme vácuo abaixo deles. Quando a passagem se tornou um pouco mais alta, permitindo-lhe endireitar-se, a rapariga passou a andar mais devagar, contando os passos que os aproximavam do poço. Pisando levemente, sensível a todos os movimentos dela, Gued seguia-a a pouca distância. E, no instante em que ela estacou, fez o mesmo.
— Aqui está o poço — sussurrou a rapariga. — Não consigo encontrar a beira. Não, aqui está. Tem cuidado. Tenho a impressão de que as pedras se estão a soltar… Não, não, espera. Estão mesmo soltas…
Recuou para terreno firme, ao sentir as pedras tremerem-lhe debaixo dos pés. O homem pegou-lhe no braço e segurou-a. O coração batia fortemente.
— A beira não está segura. As pedras estão a cair.
— Vou fazer um pouco de luz para as ver. Talvez consiga repô-las com a palavra certa. Está tudo bem, pequenina.
Ela pensou como era estranho que ele lhe chamasse o que Manane sempre lhe chamara. E, no momento em que ele fazia acender-se um leve clarão na extremidade do bordão, como a fosforescência em madeira apodrecida ou uma estrela por trás do nevoeiro, e avançou um passo sobre a estreita passagem ao lado do abismo negro, ela viu um vulto indistinto no negrume para além dele e nesse vulto reconheceu Manane. Mas a voz ficou-lhe presa na garganta como num nó corredio, não conseguiu soltar o mínimo grito.
Quando Manane estendeu o braço para o empurrar do apoio vacilante para o poço a seu lado, Gued ergueu os olhos, viu-o e, com um grito de surpresa ou raiva, vibrou-lhe uma pancada com o bordão. Ao som do grito, a luz alteou-se, branca e intolerável, em pleno rosto do eunuco. Manane ergueu uma das suas enormes mãos para defender os olhos, tentou desesperadamente agarrar Gued, falhou, caiu.
Não soltou grito algum ao cair. Nenhum som se ergueu do negrume do poço, nenhum som do seu corpo a embater no fundo, nenhum som da sua morte, absolutamente nenhum.
Perigosamente agarrados à beira do poço, ambos de joelhos sobre o abismo quais estátuas de gelo, Gued e Tenar não se moveram. Escutavam. Nada ouviram.
A luz voltara a diminuir, de novo tornada um fogo-fátuo acinzentado, no limite do visível.
— Vem! — disse Gued, estendendo-lhe a mão. Ela tomou-a e, com três corajosas passadas, ele fê-la atravessar, logo apagando a luz. Uma vez mais, a rapariga tomou a dianteira para indicar o caminho. Estava como que entorpecida e não conseguiu pensar em nada durante algum tempo. E depois o que pensou foi, será para a direita ou para a esquerda?
Estacou.
Parando alguns passos atrás dela, Gued perguntou suavemente:
— O que foi?
— Estou perdida. Faz a luz.
— Perdida?
— Perdi… perdi a conta das voltas.
— Eu fui contando — disse ele, aproximando-se um pouco dela. — Foi uma volta à esquerda a seguir ao poço, depois à direita e outra vez à direita.
— Então a seguinte vai ser à direita também — concluiu ela, automaticamente, mas sem se mover. — Faz a luz.
— A luz não nos vai mostrar o caminho, Tenar.
— Nem a luz, nem nada. Perdeu-se. Estamos perdidos.
O silêncio de morte envolveu-lhe a voz sussurrada, devorando-a.
Ela sentiu o movimento e o calor do companheiro, perto dela na escuridão gelada. Ele procurou-lhe a mão, agarrou-a.
— Continua, Tenar. A próxima volta para a direita, vá.
— Faz uma luz — implorou ela. — Os túneis dão tantas voltas…
— Não posso. Não tenho forças para desperdiçar. Tenar, eles estão… Eles sabem que saímos da Câmara do Tesouro. Sabem que passamos o poço. E estão à nossa procura. A procura da nossa vontade, do nosso espírito. Para os extinguirem, para os devorarem. E isso é que eu tenho de manter aceso. E aí que se aplica toda a minha força. Tenho de lhes fazer frente, contigo. Com a tua ajuda. E temos de prosseguir.
— Não há caminho de saída — disse ela. Mas deu um passo em frente, depois outro, hesitante como se, debaixo de cada passo, o vazio negro do abismo, o nada sob a terra, se abrisse. Na sua mão sentia o aperto firme e quente da mão dele. Seguiram em frente.
Depois do que a ambos pareceu um longo tempo, chegaram ao lance de degraus. Antes não os tinham achado tão abruptos, cada degrau pouco mais que um entalhe escorregadio na rocha. Mas lá os treparam e depois começaram a caminhar um pouco mais depressa, pois ela sabia que a passagem encurvada prosseguia durante bastante tempo sem quaisquer desvios laterais, uma vez subidos os degraus. Os seus dedos, roçando a parede da esquerda para se guiarem, encontraram um vazio, uma abertura para a esquerda.
— Aqui — murmurou ela. Mas ele pareceu querer resistir, como se algo nos movimentos da rapariga lhe levantasse dúvidas.
— Não — disse ela, confusa —, não é esta. É na próxima volta para a esquerda. Não sei. Não consigo. Não há saída.
— Estamos a ir para a Sala Pintada — soou a voz calma no meio do escuro. — Como é que lá vamos dar?
— Pela volta à esquerda depois desta.
Ela continuou a dirigir a marcha e percorreram o longo circuito, passando por dois desvios errados, até à passagem que abria para a direita, em direção à Sala Pintada.
— Sempre direito — murmurou ela.
E agora o longo desfiar do novelo de escuridão ia melhor, porque ela conhecia aquelas passagens em direção à porta de ferro e contara e recontara uma centena de vezes as voltas a dar. O estranho peso que lhe oprimia a mente não conseguia confundi-la neste aspecto, desde que ela não tentasse pensar. Mas iam-se aproximando cada vez mais daquilo precisamente que a oprimia e pesava sobre ela. E tinha as pernas tão fatigadas e pesadas que mais de uma vez soltou um gemido por causa do esforço que tinha de empregar para as mover. E, por trás dela, o homem inspirava profundamente, e sustinha a respiração, uma e outra vez, como alguém que faz um tremendo esforço, usando toda a energia do seu corpo. Por vezes, a voz dele quebrava o silêncio, abafada e cortante, pronunciando uma palavra ou um fragmento de palavra. E assim chegaram finalmente à porta de ferro. E, com súbito terror, ela estendeu a mão.
A porta estava aberta.
— Depressa! — exclamou, ao mesmo tempo que puxava o companheiro, forçando-o a atravessar. Depois, já ambos do outro lado, deteve-se.
— Porque estaria aberta? — perguntou em voz alta.
— Porque os teus Senhores precisam das tuas mãos para que lhes feches.
— Estamos a chegar ao… — e a voz faltou-lhe.
— Ao centro do negrume. Eu sei. Mas na verdade estamos fora do Labirinto. Que caminhos há para sair do Subtúmulo?
— Só um. A porta por onde entraste não se abre por dentro. O caminho é através da caverna e por passagens a subir até a um alçapão por detrás do Trono. Na Mansão do Trono.
— Então é por aí que temos de ir.
— Mas ela está lá — sussurrou a rapariga. — Ali, no Subtúmulo. Na caverna. A cavar na sepultura vazia. Eu não consigo passar por ela, ah, não. Não consigo passar por ela outra vez!
— A esta altura, já ela se foi embora.
— Não consigo lá entrar.
— Tenar, neste momento eu estou a segurar o teto por cima das nossas cabeças. Impeço as paredes de se abaterem sobre nós. Impeço que o chão se abra sob os nossos pés. É isso que tenho vindo a fazer desde que passamos o poço onde o servo deles nos esperava. Se consigo evitar o tremor de terra, temerás tu enfrentar comigo uma única alma humana? Confia em mim, tal como eu confiei em ti. Vem comigo.
Seguiram em frente.
O túnel infindável expandiu-se. Tomou-os a sensação de uma grande massa de ar, de um alargar da escuridão. Tinham entrado na grande caverna sob as Pedras Tumulares.
Começaram a dar-lhe a volta, mantendo-se junto à parede do lado direito. Tenar dera apenas alguns poucos passos quando parou.
— Que é isto? — murmurou, a voz mal abandonando os seus lábios. Havia um ruído na vasta, negra e morta bolha de ar. Um tremer ou agitar, um som que se ouvia no sangue, se sentia nos ossos. As paredes sob os seus dedos, trabalhadas pelo tempo, vibravam, vibravam.
— Segue em frente — pronunciou a voz do homem, seca e tensa. — Depressa, Tenar.
Caminhando aos tropeções, a rapariga gritou dentro do seu espírito, tão escuro e agitado como a abóbada subterrânea: «Perdoai-me. Ó meus Amos, Ó Vós que não tendes Nome, Vós, os mais antigos, perdoai-me, perdoai-me!»
Não houve resposta. Nunca houvera resposta.
Chegaram à passagem por baixo da Mansão, subiram as escadas, alcançaram os últimos degraus e o alçapão sobre as suas cabeças. Estava fechado, como ela sempre o deixava. Apertou a mola que o abria. Não abriu.
— Está quebrado — disse. — Está fechado.
O homem subiu os degraus, ultrapassando-a, e fez força com as costas contra o alçapão. Este não se moveu.
— Não está fechado. Tem é qualquer coisa pesada em cima.
— Consegues abri-lo?
— Talvez. Julgo que ela esteja lá, à nossa espera. Terá homens com ela?
— Duby e Uahto, talvez outros vigilantes… os homens não podem lá entrar…
— Não consigo fazer um encantamento de abrir, manter em respeito quem quer que esteja lá em cima e defrontar a vontade das trevas, tudo ao mesmo tempo — soou tranqüilamente a sua voz, considerando o problema. — Portanto, temos de tentar a outra porta, a das pedras por onde eu entrei. Ela sabe que não se pode abrir por dentro?
— Sabe. Houve uma vez em que me deixou tentar abri-la.
— Então talvez não considere essa possibilidade. Anda. Vem, Tenar!
A rapariga deixara-se cair sentada nos degraus de pedra que zumbiam e estremeciam como se a corda de um arco gigantesco estivesse a ser puxada nas profundezas, por baixo deles.
— O que é isto? Este tremor?
— Vem! — insistiu ele, tão certo e seguro que ela obedeceu e voltou a arrastar-se pelas passagens e degraus, de regresso à temível caverna.
Na entrada, o peso daquela ira cega e extrema que se abateu sobre ela, como se fora o peso da própria terra, foi tal que ela se agachou e, sem mesmo dar por isso, bradou em voz alta:
— Estão aqui! Eles estão aqui!
— Pois então que saibam que também nós estamos aqui — retrucou o homem. E do seu bordão, das suas mãos, brotou um esplendor branco que se foi quebrar, tal como uma onda se quebra sob a luz do sol, contra os milhares de diamantes do teto e das paredes, uma gloriosa auréola de luz através da qual se lançaram ambos, atravessando a direito a grande caverna, com as suas sombras a correrem deles para se perderem nos rendilhados brancos, nas fendas reluzentes e na sepultura, aberta, vazia. E correram para a entrada, túnel abaixo, inclinando-se para a frente, ela adiante, ele seguindo-a. Ali, dentro do túnel, as rochas ressoavam e estremeciam debaixo dos seus pés. E no entanto a luz, ofuscante, permanecia ainda com eles. E ao ver perante si a superfície impassível da rocha, ouviu, acima do trovejar da terra, a voz dele pronunciando uma única palavra. E, enquanto ela caía de joelhos, o bordão do feiticeiro, por cima da sua cabeça, ia ferir a rocha vermelha da porta fechada. As pedras como que se incendiaram com um lume branco e fizeram-se em pedaços.
Lá fora, o céu empalidecia à chegada da alvorada. Nele brilhavam, altas e frias, algumas estrelas brancas.
Tenar viu brilhar as estrelas, sentiu no rosto a doçura do vento, mas não se levantou. Ali, entre terra e céu, permaneceu agachada sobre os joelhos e as mãos.
O homem, estranha e sombria figura naquela meia luz antes do nascer do Sol, voltou-se e puxou-a por um braço para a fazer levantar. O seu rosto era negro e contorcido como o de um demônio. A rapariga encolheu-se, guinchando numa voz rouca que não era a sua, como se uma língua morta se movesse dentro da sua boca:
— Não! Não! Não me toques… deixa-me… Vai-te embora! E debateu-se, tentando afastar-se dele, penetrar de novo na boca sem lábios, a desfazer-se, dos Túmulos.
A mão que a apertava abriu-se e ele disse, numa voz serena:
— Pelo laço que trazes contigo, eu te ordeno que venhas, Tenar.
Ela viu a luz das estrelas refletida na prata do anel que tinha no braço. Mantendo os olhos fixos nele, ergueu-se, cambaleante. Depois, colocou a mão na dele e deixou que o companheiro a levasse. Não conseguia correr. Desceram ambos a encosta da colina. Da negra boca entre as rochas, por detrás deles, brotou um longo, um muito longo uivo rosnado, de ódio e lamento. Pedras tombavam ao redor deles. O chão tremia. Prosseguiram, os olhos dela fixos ainda no brilho de estrela que lhe envolvia o pulso.
Estavam no vale a ocidente do Lugar. Logo começaram a subir e, de súbito, ele impeliu-a a voltar-se, dizendo apenas:
— Olha…
E ela voltou-se e viu. Estavam do outro lado do vale e ao mesmo nível das Pedras Tumulares, os nove grandes monólitos que se erguiam ou jaziam sobre a caverna de diamantes e sepulturas. As pedras que permaneciam de pé estavam a mover-se. Estremeceram e inclinaram-se lentamente, como mastros de navios. Uma delas pareceu contorcer-se e altear-se mais. Depois foi como que perpassada por um estremecimento e caiu. Outra tombou, atravessada, esmagando-se contra a primeira. Por detrás das pedras, a cúpula baixa da Mansão do Trono, negra contra a luz amarelada a leste, estremeceu. As paredes abaularam-se. Toda a grande e arruinada massa de pedra e alvenaria mudou de forma, como barro em água corrente, ruiu sobre si própria e, com um rugido e uma súbita tempestade de estilhas de pedra e pó, deslizou para um lado e desmoronou-se. O chão do vale encrespou-se e ergueu-se em arco. Uma espécie de onda correu colina acima e uma enorme fenda se abriu por entre as Pedras Tumulares, escancarando-se sobre o negrume das profundas, jorrando pó como fumo cinzento. As pedras que ainda permaneciam eretas tombaram lá para dentro e foram engolidas. Depois, com um estrondo que pareceu ecoar no próprio céu, os lábios negros da fenda fecharam-se. E então os montes estremeceram uma única vez e aquietaram-se.
A rapariga desviou os olhos do horror do terremoto para o homem ao lado dela, cujo rosto nunca vira à luz do dia.
— Tu mantiveste-o em respeito — disse ela, e a sua voz soava leve como o vento nos juncos, depois do espantoso bramir e gritar da terra. — Tu mantiveste em respeito o terremoto, a ira da treva.
— Temos de prosseguir — disse ele, voltando costas à alvorada e aos Túmulos em ruínas. — Estou cansado, tenho frio…
Puseram-se a caminho e, como ele cambaleasse um pouco, ela deu-lhe o braço. Nenhum deles conseguia ir mais depressa que um caminhar arrastado. Lentamente, como duas pequenas aranhas numa grande parede, subiram laboriosamente a imensa vertente do monte até que, lá no alto, se encontraram em chão enxuto, amarelecido pelo Sol nascente e traçado pelas longas e esparsas sombras da salva. Perante eles, erguiam-se as montanhas ocidentais, os sopés púrpura e as encostas superiores douradas. Fizeram ambos uma pausa, depois ultrapassaram a crista do monte, fora das vistas do Lugar dos Túmulos, e desapareceram.
11. AS MONTANHAS OCIDENTAIS
Tenar acordou, libertando-se com esforço de maus sonhos, deixando lugares onde caminhara durante tanto tempo que toda a carne se despregara dela, deixando-a ver os duplos ossos brancos dos seus braços luzindo debilmente nas trevas. Abriu os olhos para uma luz dourada e aspirou o aroma acre da salva. Uma grande doçura a penetrou ao acordar, um prazer que a encheu lenta e totalmente até transbordar, e a rapariga sentou-se, esticando os braços para fora das mangas negras do seu vestido, olhando em volta de si numa delícia incondicional.
Era o entardecer. O Sol desaparecera por detrás das montanhas que avultavam próximas e altaneiras para ocidente, mas a luz restante enchia toda a terra e todo o céu. Um vasto e claro sol de Inverno, uma vasta e despojada terra, envolta em ouro, de montanhas e amplos vales. O vento abrandara. Fazia frio e o silêncio era absoluto. Nada se movia. As folhas dos arbustos da salva, ali perto, estavam secas e cinzentas, os caules das minúsculas e ressequidas ervas do deserto picavam-lhe a palma da mão. A grande, silente e gloriosa luz ardia em cada ramo, em cada folha murcha, sobre os montes, no ar.
Olhou para a esquerda e viu o homem estendido no solo do deserto, embrulhado no seu manto, um braço debaixo da cabeça, profundamente adormecido. No sono, o seu rosto era severo, quase uma careta, mas a sua mão esquerda jazia descontraída sobre a terra, ao lado de um pequeno cardo que apresentava ainda o seu andrajoso capuz de penugem cinzenta e as suas minúsculas defesas de picos e espinhos. O homem e o pequeno cardo do deserto. O cardo e o homem adormecido…
Ele era alguém cujo poder era semelhante aos Velhos Poderes da terra e tão forte como eles. Alguém que falava com dragões e mantinha terremotos em respeito com uma palavra. E ali estava ele, adormecido sobre a terra, com um pequeno cardo a crescer junto à sua mão. Como era estranho. Viver, estar no mundo, era uma coisa muito maior e mais estranha do que ela alguma vez sonhara. A luz gloriosa do céu tocou o cabelo empoeirado do homem e, por um instante, transformou em ouro o pequeno cardo.
A luz ia-se desvanecendo a pouco e pouco e, ao mesmo tempo, o frio parecia tornar-se mais intenso a cada minuto. Tenar ergueu-se e começou a recolher ramos secos de salva, apanhando os que havia por ali caídos e quebrando os maiores que cresciam tão nodosos e maciços, à sua escala, como os ramos dos carvalhos. Tinham ali parado perto do meio-dia, quando ainda estava quente e eles não podiam já prosseguir, tanto era o cansaço. Um par de zimbros atrofiados e a encosta ocidental da crista que tinham acabado de descer, haviam oferecido abrigo suficiente. Depois de beberem um pouco de água do cantil, tinham-se deitado e adormecido.
Havia bastantes ramos maiores por baixo das pequenas árvores e apanhou-os também. Abrindo uma cova num ângulo formado por rochas que saíam do solo, preparou uma fogueira que acendeu com o seu isqueiro de pederneira e aço. As folhas de salva e os pequenos galhos com que começou pegaram de imediato. Depois foi a vez de os ramos secos florirem em chamas rosadas, perfumadas de resina. Agora, em volta do fogo, parecia bem escuro e as estrelas surgiam de novo na amplidão tremenda do céu.
O estalar das chamas acordou o homem adormecido. Soergueu-se, passando as mãos pelo rosto manchado de pó, e finalmente levantou-se com movimentos pesados e aproximou-se do fogo.
— Não sei se… — hesitou, com voz ensonada.
— Tens razão — interpôs a rapariga —, mas não podemos passar aqui a noite sem uma fogueira. Faz demasiado frio. — E, um minuto depois, acrescentou: — A não ser que conheças alguma magia que nos mantenha quentes ou que oculte o fogo…
Ele sentou-se junto à fogueira, os pés quase dentro das chamas e com os braços em volta dos joelhos.
— Brrr — fez ele —, uma fogueira é muito melhor que qualquer magia. Eu pus um pouco de ilusão aqui em nossa volta e, se alguém por aí passar, talvez nos tome por troncos ou pedras. O que te parece? Achas que nos vão perseguir?
— Tenho medo que sim e, no entanto, não julgo que o façam. Ninguém, além de Kossil, sabia que tu lá estavas. Kossil e Manane. E eles estão mortos. Com certeza que ela estava na Mansão quando ruiu. Estava à espera ao pé do alçapão. E os outros, o resto, devem ter pensado que eu estava na Mansão ou nos Túmulos e que fui esmagada pelo terremoto.
Também ela rodeou os joelhos com os braços, teve um arrepio e continuou:
— Espero que os outros edifícios não tenham caído. Era difícil de ver do alto do monte, havia tanta poeira… Com certeza que não caíram todos os templos e todas as casas, a casa Grande onde dormiam todas as raparigas.
— Penso que não. Foram os Túmulos que se devoraram a si próprios. Vi o teto dourado de um templo qualquer quando nos estávamos a vir embora e ainda estava de pé. E havia figuras na base do monte, gente a correr.
— Que irão dizer, que irão pensar?… Pobre Penthé! Se calhar agora vai ter de ser a Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus. E ela que era quem sempre se quis ir embora. Não eu. Talvez agora fuja.
Tenar sorriu. Havia nela uma alegria que nenhum pensamento ou temor podia ofuscar, aquela mesma alegria segura que crescera nela ao acordar na luz dourada. Abriu o seu bornal e dele retirou dois pequenos pães achatados. Por cima do lume, passou um a Gued, enquanto mordia o outro. O pão era duro, e azedo, e sabia muito bem.
Em silêncio, durante algum tempo, foram mastigando ambos o seu quinhão.
— A que distância estamos do mar?
— Levei duas noites e dois dias a cá chegar. Vamos levar mais tempo a ir.
— Eu sou forte — afirmou ela.
— Pois és. E corajosa. Mas o teu companheiro está cansado, — explicou ele com um sorriso. — Além de que não temos muito pão.
— E será que encontramos água?
— Amanhã, nas montanhas.
— Serás capaz de arranjar comida para nós? — perguntou ela algo vaga e timidamente.
— Para caçar, é preciso tempo. E armas.
— Eu queria dizer com… tu sabes, com feitiços.
— Posso chamar um coelho — respondeu ele, atiçando o lume com um pau retorcido de zimbro. — Agora, os coelhos estão todos a sair das suas tocas à nossa volta. A noite é o tempo deles. Eu podia chamar um pelo seu nome verdadeiro e ele viria. Mas eras capaz de apanhar, esfolar e assar um coelho que tivesses chamado assim? Talvez, se estivesses a morrer de fome. Mas acho que seria sempre um abuso de confiança.
— Pois. Mas eu pensei que pudesses simplesmente…
— Fazer aparecer uma ceia — concluiu ele. — Oh, sim, podia! Até em pratos de ouro, se quisesses. Mas isso é ilusão e, quando comemos ilusão, acabamos por ficar com mais fome antes. Alimenta tanto como comermos as nossas próprias palavras.
A rapariga viu-lhe os dentes brancos relampejarem por um instante à luz da fogueira.
— A tua magia é estranha — observou ela, com algo de uma dignidade entre iguais, Sacerdotisa dirigindo-se a Mago. — Parece só ser útil para assuntos de vulto.
Ele deitou mais lenha na fogueira que se alteou bruscamente num fogo de artifício de fagulhas e estalos cheirando a zimbro.
— É mesmo verdade que podes chamar um coelho? — perguntou Tenar, subitamente.
— Queres que eu chame um? Ela fez que sim com a cabeça.
Gued voltou costas ao lume e, suavemente, disse para a escuridão imensa, coalhada de estrelas:
— Kebbo… O kebbo…
Silêncio. Nem um som. Nem um movimento. Só que de repente, mesmo na orla da luz tremeluzente da fogueira, surgiu um olho redondo semelhante a um seixo de azeviche, muito perto do chão. Depois a curva de um dorso peludo. E uma orelha, longa, atenta, espetada.
A voz de Gued soou de novo. A orelha agitou-se, ganhou uma súbita companheira saída da sombra. Depois, quando o animalzinho se voltou, Tenar pôde vê-lo inteiramente por um momento, e ao pequeno, suave e ágil salto com que regressou, despreocupado, à sua atividade noturna.
— Ah! — fez ela, soltando a respiração. — Que lindo! — E logo perguntou: — Eu também podia fazer isso?
— Bom…
— É um segredo — disse ela imediatamente, retomando o ar digno.
— O nome do coelho é um segredo. Ou, pelo menos, não é coisa para se usar levianamente, sem motivo. Mas o que não é segredo, mas antes um dom, ou um mistério, vês tu, é o poder de chamar.
— Ah — disse ela —, esse tu tens. Eu sei!
E havia paixão na sua voz, sem sombra de troça que a ocultasse. Ele olhou-a, sem responder.
A verdade é que Gued estava ainda esgotado da sua luta contra Aqueles-que-não-têm-Nome. Gastara a sua força a deter o tremor dos túneis. Assim, embora tivesse ganho, pouco alento lhe restava para se alegrar. Em breve se voltou a enroscar, tão perto do lume quanto pôde, e adormeceu.
Tenar permaneceu sentada, alimentando o fogo e observando o deslumbramento das constelações de Inverno de horizonte a horizonte, até que a cabeça se lhe entonteceu de esplendor e silêncio, e ela se deixou também adormecer.
Acordaram ambos. O fogo apagara-se. As estrelas que ela vira estavam agora muito longe para lá das montanhas e outras tinham nascido a oriente. Foi o frio que os acordou, o frio seco da noite no deserto, e o vento que mais parecia uma lâmina de gelo. Um véu de nuvens vinha vindo sobre o céu, de sudoeste.
A lenha que Tenar juntara estava quase toda gasta.
— Caminhemos — disse Gued. — Já pouco falta para amanhecer.
Os seus dentes batiam de tal maneira que ela teve dificuldade em o perceber. Partiram, subindo a longa e lenta encosta. A luz das estrelas, rochas e arbustos destacavam-se, negros, e era quase tão fácil caminhar como de dia. Após um início frio, o andar foi aquecendo-os. Deixaram de se encolher e de tiritar e tornou-se mais fácil caminhar. Assim, quando o Sol nasceu, já iam a subir a primeira encosta das montanhas ocidentais que, até aí, tinham sido muralhas a cercar a vida de Tenar.
Pararam num bosque onde as folhas douradas, trêmulas, se agarravam ainda aos ramos das árvores. Ele disse-lhe que eram faias pretas. Ela não conhecia outras árvores para além dos zimbros, dos choupos enfermiços junto às nascentes do rio e das quarenta macieiras no pomar do Lugar. Um minúsculo pássaro fez «dii, dii» entre os ramos das faias, num cantar baixinho. Sob as árvores corria um rio, estreito, mas potente, fragoroso, enérgico sobre as suas rochas e quedas, demasiado apressado para gelar. Tenar quase teve medo da corrente, habituada como estava ao deserto onde as coisas são silenciosas e se movem lentamente. Rios preguiçosos, sombras de nuvens, abutres pairando.
Dividiram um pedaço de pão e um último bocado de queijo já a desfazer-se em migalhas, para o pequeno almoço, descansaram um pouco e seguiram.
Ao entardecer, iam já bem alto. O tempo estava nublado e ventoso, com um frio de gelar. Acamparam no vale de um outro rio, onde havia muita madeira, e dessa vez puderam fazer uma grande fogueira de troncos, junto da qual se conseguiam manter razoavelmente quentes.
Tenar estava feliz. Encontrara o esconderijo de nozes de um esquilo, posto a descoberto pela queda de uma árvore oca, consistindo, para além de quase um quilo de nozes comuns, de uma outra espécie de casca macia a que Gued, não conhecendo a sua designação karguiana, chamou ubir. A rapariga partiu-as uma a uma, servindo-se de duas pedras, uma rasa e outra redonda a servir de martelo, e de cada uma deu ao homem metade do miolo.
— Quem me dera podermos ficar aqui — disse ela, olhando lá para baixo, para o vale ventoso, iluminado pelo crepúsculo, entre os picos da montanha. — Gosto deste lugar.
— Sim — concordou ele —, este é um bom lugar.
— Nunca cá viria ninguém.
— Não muitas vezes… — retificou Gued. — Eu nasci nas montanhas, na Montanha de Gont. Passaremos por lá, navegando para Havnor, se tomarmos o caminho pelo Norte. É muito bonita de ver no Inverno, a erguer-se toda branca do mar, como uma onda mais alta. A minha aldeia ficava junto a um rio tal e qual como este. E tu, Tenar, onde nasceste?
— No Norte de Atuan, em Entat, julgo eu. Não me consigo lembrar do sítio.
— Foram buscar-te assim tão pequena?
— Com cinco anos. Lembro-me de um fogo numa lareira e… de mais nada.
Gued esfregou o queixo que, embora tivesse adquirido uma barba esparsa, estava pelo menos limpo. Apesar do frio, ambos se tinham lavado nos rios da montanha. Esfregou pois o queixo e o seu aspecto era pensativo e severo. Ela observava-o, mas nunca poderia ter adivinhado o que ia no coração do homem enquanto assim o observava, à luz do lume, ao anoitecer na montanha.
— Que vais tu fazer em Havnor? — perguntou ele, mais para o fogo que para ela. — Tu estás, mais do que eu tinha entendido, verdadeiramente renascida.
Tenar assentiu com um movimento de cabeça e um ligeiro sorriso. Sentia-se recém-nascida.
— Pelo menos, devias aprender a língua.
— A tua língua?
— Sim.
— Bem gostava.
— Ora muito bem. Isto é kabat. — E atirou uma pedrinha para o regaço do seu vestido negro.
— Kabat. Isso é na língua dos dragões?
— Não, não. Tu não precisas de tecer encantamentos. Precisas é de falar com outros homens e outras mulheres!
— Mas como é uma pedrinha na língua dos dragões?
— Tolk — respondeu ele. — Mas não estou a tomar-te como minha aprendiza de feiticeira. Estou a ensinar-te a língua que as pessoas falam no Arquipélago, nas Terras Interiores. Eu tive de aprender a tua língua antes de vir até aqui.
— Mas falas de uma maneira esquisita.
— Com certeza que sim. E agora, arkemmi kabat. — E estendeu as mãos para que ela lhe desse a pedrinha.
— Tenho mesmo de ir para Havnor? — perguntou ela.
— E para onde irias tu, Tenar?
A rapariga hesitou.
— Havnor é uma bela cidade — continuou ele. — E tu trazes-lhe o anel, o sinal de paz, o tesouro perdido. Vão receber-te em Havnor como uma princesa. Honrar-te-ão pela grande dádiva que lhes trazes, dar-te-ão as boas-vindas e farão com que te sintas bem-vinda. O povo dessa cidade é nobre e generoso.
Chamar-te-ão a Dama Branca porque a tua pele é clara e amar-te-ão ainda mais por seres tão jovem. E também porque és bela. Terás cem vestidos como aquele que te mostrei com uma ilusão, mas esses serão verdadeiros. Irás encontrar louvor, gratidão e amor. Tu, que só conheceste a solidão, a inveja e a sombra.
— Houve Manane — interpôs ela, na defensiva, com um quase tremer dos lábios. — Ele amava-me e foi bom para mim, sempre. Ele protegeu-me o melhor que soube e a paga que lhe dei foi a morte. Ele caiu no poço negro. Não quero ir para Havnor. Não quero ir para lá. Quero ficar aqui.
— Aqui, em Atuan?
— Nas montanhas. Onde estamos agora.
— Tenar — disse ele na sua voz serena e grave —, ficaremos então. Não tenho a minha faca e, se nevar, vai ser difícil. Mas, desde que consigamos encontrar comida…
— Não. Eu sei que não podemos ficar. Estou só a ser tonta. E, com estas palavras, Tenar ergueu-se, espalhando cascas de nozes em redor, para pôr mais lenha no fogo. Depois ficou muito quieta e direita, delgada no seu vestido e manto negros, manchados de sujidade.
— Tudo o que sei de nada serve agora — disse, finalmente, — e não aprendi mais nada. Tentarei aprender.
Gued desviou a vista com um esgar, como de alguma dor.
No dia seguinte atravessaram o cume da cordilheira de cor fulva. Na estreita passagem soprava um vento forte, trazendo neve, que os fustigava e cegava. Assim, foi só depois de terem percorrido um longo caminho na descida do outro lado, saindo de sob as nuvens de neve dos picos, que Tenar viu a terra para lá da muralha montanhosa. Tudo era verde. Verde dos pinheiros, dos prados, dos campos lavrados e dos alqueives. Mesmo em pleno Inverno, quando as matas estavam nuas e as florestas cheias de ramos cinzentos, era uma terra verde, humilde e suave. Avistaram-na de um alto e rochoso declive na encosta da montanha. Sem uma palavra, Gued apontou para ocidente, onde o Sol começava a baixar sob nuvens espessas como natas batidas. O próprio Sol estava escondido, mas havia uma cintilação no horizonte, quase como o esplendor das paredes de cristal no Subtúmulo, uma espécie de brilho jovial a libertar-se da orla do mundo.
— O que é aquilo? — perguntou a rapariga. E logo ele:
— O mar.
Pouco depois ela viu algo de não tão maravilhoso, mas mesmo assim maravilhoso que bastasse. Tinham chegado a uma estrada e seguiram por ela. Ao lusco-fusco, a estrada levou-os até uma aldeia, dez ou doze casas alinhadas ao longo dela. A rapariga olhou alarmada para o companheiro quando percebeu que estavam entre gente. Ao lado dela, usando a roupa de Gued e com o seu modo de andar e os seus sapatos, caminhava outro homem. Tinha a pele branca e nem vestígios de barba. Ele lançou-lhe um olhar de relance e os seus olhos eram azuis. Um dos olhos piscou-lhe.
— Será que os engano? — perguntou. — E que tal a tua roupa? A rapariga olhou para baixo, para si própria. Tinha vestido um conjunto de saia e jaqueta à camponesa, e um grande xale de lã vermelho.
— Oh! — exclamou ela, estacando. — Oh, tu és… tu és Gued! E, ao dizer-lhe o nome, viu-o claramente, o rosto escuro e sulcado de cicatrizes que conhecia, os escuros olhos. No entanto, ali estava o estranho de pele leitosa.
— Não digas o meu nome-verdadeiro em frente de outros. Nem eu direi o teu. Somos irmãos, vindos de Tenacbá. E acho que sou capaz de pedir uma ceiazinha, se der com uma cara simpática.
Pegou-lhe na mão e entraram na aldeia. E saíram dela na manhã seguinte, de estômagos cheios e tendo dormido um bom sono num palheiro.
— É costume os Magos pedirem esmola? — perguntou Tenar, enquanto percorriam a estrada entre campos verdes, onde pastavam cabras e pequenas vacas malhadas.
— Porque perguntas?
— Pareces habituado a pedir. Aliás, fizeste-o muito bem.
— Bem, é verdade. Se quiseres ver as coisas assim, toda a vida pedi. Sabes, os feiticeiros não têm grandes posses. A bem dizer, quando vagueiam pelo mundo, nada têm para além do seu bordão e das roupas. São recebidos de boa vontade pela maioria das pessoas, que lhes dão alimento e abrigo. E certo que oferecem alguma retribuição.
— Que retribuição?
— Bom, por exemplo, aquela mulher na aldeia. Curei-lhe as cabras.
— Que é que tinham elas?
— Estavam as duas com infecções nas tetas. Eu guardava cabras quando era pequeno.
— Disseste-lhe que as tinhas curado?
— Não. Como é que podia? E porque havia de o fazer?
Depois de uma pausa, ela observou:
— Estou a ver que a tua magia afinal não é só boa para as coisas importantes.
— Hospitalidade — contrapôs ele —, a bondade para um estranho, é uma coisa muito importante. Agradecer é o bastante, claro, mas tive pena das cabras.
De tarde chegaram a uma grande vila. Era construída com tijolos de barro e toda murada, à maneira karguiana, com ameias salientes, torres de vigia aos quatro cantos e uma única porta, por onde guardadores de gado iam conduzindo um grande rebanho de carneiros. Os telhados vermelhos de uma centena ou mais de casas espreitavam por sobre as muralhas de tijolos amarelados. A entrada, perfilavam-se dois guardas ostentando os capacetes com plumas vermelhas dos servidores do Rei-Deus. Tenar vira homens com elmos assim virem, talvez uma vez por ano, ao Lugar, escoltando ofertas de escravos ou dinheiro para o templo do Rei-Deus. Quando, ao passarem por fora das muralhas, falou disso a Gued, ele respondeu:
— Também eu os vi antes, quando era ainda rapaz. Vieram numa batida até Gont. E chegaram à minha aldeia, para a saquear. Mas foram afugentados. Houve depois uma batalha na Foz-do-Ar, na costa. Foram mortos muitos homens, centenas, dizem. Bem, talvez agora, que o anel está unido e a Runa Perdida foi refeita, não haja mais dessas batidas e mortandades entre o Império Karguiano e as Terras Interiores.
— Seria uma loucura se tais coisas continuassem — comentou Tenar. — Que iria o Rei-Deus fazer com tantos escravos?
O companheiro pareceu ponderar aquelas palavras durante algum tempo. Depois perguntou:
— Queres tu dizer, se o território dos Kargs derrotasse o Arquipélago?
Ela assentiu com um aceno de cabeça.
— Não me parece que isso tivesse grandes possibilidades de acontecer.
— Mas repara como o Império é forte… Vê essa grande cidade, com as suas muralhas e todos os seus homens. Como poderiam as tuas terras defrontá-los, se fossem atacadas?
— Esta não é uma grande cidade — disse ele, cautelosa e docemente. — Também eu a teria julgado tremenda, ao acabar de deixar a minha montanha. Mas há muitas, muitas cidades em Terramar, entre as quais esta é apenas uma vila. E há muitas, muitas terras. Hás de vê-las, Tenar.
Sem responder, a rapariga continuou a andar na estrada, uma expressão obstinada no rosto.
— É maravilhoso vê-las, avistar as novas terras como que a erguerem-se do mar à medida que o nosso barco se aproxima delas. As quintas e as florestas, os mercados onde se vende tudo o que há no mundo.
Ela acenou a cabeça. Sabia que ele estava a tentar encorajá-la, mas ela deixara a alegria lá era cima nas montanhas, no valezinho iluminado pelo crepúsculo, percorrido pelo rio. Havia agora nela um temor que não cessava de aumentar. Tudo o que havia para a frente era desconhecido. Nada conhecia além do deserto e dos Túmulos. E isso de que servia? Conhecia todas as voltas de um labirinto em ruínas, sabia as danças a dançar perante um altar que tombara. E nada sabia de florestas, de cidades, dos corações dos homens.
Subitamente, perguntou:
— Ficarás lá comigo?
Não o olhou. Ele ia com o seu disfarce de ilusão, um camponês karguiano de pele branca, e não gostava de o ver assim. Mas a sua voz não mudara, era ainda a mesma que lhe falara na escuridão do Labirinto.
Gued levou algum tempo a responder.
— Tenar — disse, por fim —, eu vou onde sou enviado. Sigo um chamamento. E ainda nunca me deixou ficar por muito tempo em terra alguma. Estás a compreender? Faço o que tenho de fazer. Para onde vou, tenho de ir sozinho. Enquanto precisares de mim, ficarei contigo em Havnor. E se alguma vez voltares a precisar de mim, chama-me. Eu virei. Viria da minha própria sepultura se me chamasses, Tenar! Mas não posso ficar contigo.
A isto ela nada respondeu. Pouco depois, Gued acrescentou:
— Não vais precisar lá de mim. Vais ser feliz.
Ela aquiesceu com um movimento de cabeça, aceitando, silenciosa.
E, lado a lado, continuaram o seu caminho em direção ao mar.
12. VIAGEM
Gued ocultara o seu barco numa gruta, num dos lados de um grande promontório rochoso, chamado Cabo da Nuvem pelos aldeãos da vizinhança, um dos quais lhes deu uma tigela de caldeirada para a ceia. Fizeram caminho pela falésia até à praia, sob a última luz de um dia cinzento. A gruta era uma fenda estreita que se aprofundava na rocha cerca de dez metros. O chão arenoso estava úmido porque ficava logo acima do nível da maré alta. A abertura era visível do mar e Gued disse que não podiam fazer fogo, não fosse algum pescador noturno, navegando no seu barquinho ao longo da costa, vê-lo e ficar curioso. Por isso estenderam-se miseramente na areia, que tão macia era ao toque dos dedos, mas dura como rocha para o corpo cansado. E Tenar escutava o oceano, poucos metros abaixo da boca da gruta, rebentando e retrocedendo e reboando nos rochedos, e ainda o seu trovejar praia abaixo, para leste, durante milhas e milhas. E uma vez e outra e outra ainda fazia os mesmos sons que, no entanto, não eram bem os mesmos. Nunca repousava. Em todas as costas de todas as terras e por todo o mundo, alteava-se naquelas ondas inquietas, e nunca cessava, e nunca se aquietava. O deserto, as montanhas, esses permaneciam quietos. Não lançavam um brado eterno com voz alterosa e cava. O mar falava incessantemente, mas a sua língua era-lhe alheia. Ela não compreendia.
Ao iluminar da primeira luz acinzentada, quando a maré estava baixa, acordou de um sono inquieto e viu o feiticeiro sair da gruta. Observou-o enquanto ele caminhava, de pés nus, um cinto a cingir-lhe o manto, sobre as rochas lá em baixo, cobertas do que parecia cabelos pretos, à procura de qualquer coisa. Voltou depois, escurecendo a gruta ao entrar, e, estendendo-lhe uma mão-cheia de umas coisas molhadas e hediondas, semelhantes a pedras púrpuras com lábios laranja, disse:
— Toma.
— Que é isso?
— Mexilhões, das rochas. E estas duas são ostras, ainda melhores. Repara… assim.
Com a pequena adaga da argola das chaves que a rapariga lhe entregara nas montanhas, abriu uma concha e comeu o mexilhão, com a água do mar a servir de molho.
— Nem sequer o cozinhas? Comeste isso vivo!
E não quis voltar a olhá-lo enquanto ele, envergonhado mas inabalável, continuou a abrir e a comer os moluscos, um por um.
Depois de acabar, voltou para dentro da gruta e foi até ao barco, que tinha a proa virada para fora e estava montado sobre vários troncos trazidos pelo mar, a defendê-lo do contato com a areia. Tenar olhara para o barco na noite anterior, desconfiada e sem o entender. Era muito maior do que pensara que os barcos fossem, três vezes a sua própria altura em comprimento. Estava cheio de objetos de que ela desconhecia o uso e parecia perigoso. A cada lado do nariz (que era como ela chamava à proa) tinha um olho pintado e, no seu sono inquieto, sentira constantemente que o barco a fitava.
Gued rebuscou por instantes entre o que havia lá dentro e regressou com qualquer coisa. Um bocado de pão duro, bem embrulhado para se manter seco. E ofereceu-lhe uma grande fatia.
— Não tenho fome.
Ele olhou-lhe o rosto taciturno.
Depois, voltou a embrulhar o pão como antes, pô-lo de lado e sentou-se à entrada da gruta.
— Faltam umas duas horas para a maré voltar a subir — disse — e então podemos partir. Tiveste uma noite pouco sossegada. Porque é que não dormes agora?
— Não tenho sono.
Ele não deu resposta. Deixou-se simplesmente ficar, de lado para ela e de pernas cruzadas, sob o arco escuro das rochas. O altear e mover-se do mar, com o seu brilho, ficava por detrás dele, tal como o via do fundo da gruta. Ele não se movia. Permanecia tão imóvel como as próprias rochas. A quietude libertava-se dele e espalhava-se, como os círculos formados por uma pedra lançada à água. O silêncio tornou-se, não a ausência da fala, mas uma coisa em si própria, como o silêncio do deserto.
Passado muito tempo, Tenar ergueu-se e veio até à entrada da gruta. Ele não se moveu. Desceu os olhos para o seu rosto. Era como se tivesse sido fundido em cobre — rígido, os olhos escuros não completamente cerrados, mas olhando para baixo, a boca serena.
Ele estava tão para além de Tenar como o oceano.
Onde estava ele agora, em que direção o espírito caminharia? Nunca poderia segui-lo.
Ele obrigara-a a segui-lo. Chamara-a pelo nome e ela viera rastejando à sua mão, tal como o pequeno coelho do deserto viera do escuro até ele. E agora que tinha o anel, agora que os Túmulos estavam em ruínas e a sua sacerdotisa renegada para sempre, agora não precisava dela e partia para onde não conseguia segui-lo. Não queria ficar com ela. Iludira-a e deixá-la-ia desolada e só.
Estendeu a mão e, com um único e célere gesto, arrancou-lhe do cinto a pequena adaga de aço que lhe dera. Ele moveu-se tanto como se teria movido uma estátua.
A lâmina da adaga não tinha mais de dez centímetros e era afiada num dos lados. Era a miniatura das facas usadas nos sacrifícios. Fazia parte dos adereços da Sacerdotisa dos Túmulos, a qual a deve trazer juntamente com a argola das chaves e um cinto de crina de cavalo, e ainda outros artigos, para alguns dos quais se desconhecia qualquer utilidade. Tenar nunca usara a adaga para nada, salvo que, numa das danças interpretadas durante a lua nova, tinha de a lançar ao ar e voltar a apanhá-la perante o Trono. Ela tinha gostado dessa dança. Era uma dança selvagem, sem outra música que não fosse o bater dos seus próprios pés. Várias vezes se cortara nos dedos ao ensaiá-la, até ter conseguido o jeito de agarrar o cabo sempre que a apanhava. A pequena lâmina era suficientemente afiada para cortar um dedo até ao osso, ou as artérias de uma garganta. Ela poderia ainda servir os seus Senhores, embora eles a tivessem traído e abandonado. Guiariam e impeliriam a sua mão naquela última ação de sombrio negrume. E aceitariam o sacrifício.
Inclinou-se sobre o homem, segurando a faca na mão direita, atrás da anca. Nesse momento, ele ergueu lentamente o rosto e olhou para ela. Tinha o aspecto de alguém que vem de muito longe e viu coisas terríveis. O seu rosto estava calmo mas cheio de dor. Ao dirigir o olhar para ela, parecendo vê-la cada vez mais claramente, a sua expressão amenizou-se. E, por fim, disse: «Tenar», como a desejar-lhe boas-vindas e ergueu a mão até tocar a pulseira de prata, perfurada e trabalhada, que cingia o pulso da rapariga. Fê-lo como se quisesse sossegar-se a si próprio, cheio de confiança. Não deu qualquer atenção à adaga na mão dela. Desviou a vista para longe, para as ondas que se alteavam sobre as rochas abaixo deles e, com esforço, disse:
— Está na altura… Na altura de partirmos.
Ao som da sua voz, a fúria abandonou-a. Sentiu medo.
— Vais deixá-los para trás de ti, Tenar. Agora, és livre — disse Gued, pondo-se de pé com súbito vigor. Espreguiçou-se e voltou a apertar o cinto à volta do manto, depois do que continuou: — Dá-me uma ajuda com o barco. Está em cima de troncos para poder rolar. Isso mesmo, empurra… Outra vez. Pronto, pronto, já chega. Agora prepara-te para saltar lá para dentro quando eu disser «salta». Este não é o melhor dos lugares para lançar um barco ao mar. Outra vez, agora. Isso! Salta lá para dentro!
E, saltando atrás dela, segurou-a quando a rapariga perdeu o equilíbrio, fê-la sentar no fundo do barco, firmou as pernas bem abertas e, lançando mão dos remos, impeliu o barco para o largo e por sobre as rochas, aproveitando o refluxo de uma onda, e depois até passar a ponta do cabo, rodeada do rugido e da espuma das vagas, e finalmente para o mar aberto.
Assim que se viram suficientemente longe das águas baixas, recolheu os remos e levantou o mastro. O barco parecia muito pequeno a Tenar, agora que estava dentro dele e com todo o oceano de fora.
Ele ergueu a vela. Todos os aprestos tinham um ar de coisas muito e arduamente usadas, embora a vela, de um vermelho baço, estivesse muito bem remendada e o barco tão limpo e arrumado quanto era possível. Eram como o dono. Tinham ido longe e não tinham sido tratados com delicadeza.
— Agora — disse ele —, agora estamos longe, agora estamos livres, partimos de vez, Tenar. Não sentes isso?
E ela sentia-o realmente. Uma escura mão deixara de ter sobre ela um domínio sobre o seu coração que durara toda a vida. Mas não sentia alegria, como sentira nas montanhas. Baixou a cabeça sobre os braços e chorou, e as suas faces estavam salgadas e molhadas. Chorava pelo desperdício dos seus anos passados na servidão de um mal inútil. Chorava de dor porque estava livre.
O que começara a aprender era o peso da liberdade. A liberdade é uma carga extrema, um fardo grande e estranho para que o espírito o aceite. Não é fácil. Não é um dom oferecido, mas uma escolha feita, e a escolha pode ser árdua. A estrada vai subindo em direção à luz. Mas o caminhante, sob a sua carga, pode nunca atingir o fim.
Gued deixou-a chorar e não lhe dirigiu quaisquer palavras de conforto. Nem quando ela parou de chorar e se ficou a olhar para trás, na direção da terra azul de Atuan, nem então falou. O seu rosto era impassível e atento, como se estivesse só. Tomava conta da vela e do leme, rápido e silencioso, olhando sempre em frente.
A certa altura, durante a tarde, Gued apontou para a direita do Sol, em cuja direção seguiam então.
— Além é Karego-At — indicou.
E Tenar, seguindo o seu gesto, viu o vulto distante de montes como nuvens, a grande ilha do Rei-Deus. Atuan já ficara fora de vista, para trás deles. O coração da rapariga estava pesado. O sol batia-lhe nos olhos como um martelo de ouro.
A ceia foi pão seco e peixe fumado, que coube pessimamente a Tenar, e água do barril de bordo que Gued enchera num ribeiro que desaguava no Cabo da Nuvem, na noite anterior. Rápida e fria, a noite de Inverno estendeu-se sobre o mar. Muito longe, para norte, viram por pouco tempo o minúsculo brilho de luzes e do fogo amarelado nas aldeias distantes na costa de Karego-At. Essas luzes desvaneceram-se numa névoa que se ergueu do oceano e ficaram sós, na noite sem estrelas, sobre as águas profundas.
A rapariga enroscara-se à popa. Gued deitou-se à proa, com o barril da água a servir de almofada. O barco avançava firmemente, com a ondulação baixa batendo-lhe levemente o costado, embora o vento não passasse de uma leve brisa de sul. Ali, longe das costas rochosas, também o mar era silencioso. Apenas, ao tocar o barco, sussurrava um pouco.
— Se o vento sopra de sul — disse Tenar, sussurrando porque o mar sussurrava também —, o barco não navega para norte?
— Sim, a não ser que se vá em ziguezague. Mas eu pus o vento mágico na vela, para o Ocidente. Amanhã de manhã já devemos estar fora das águas karguianas. Então deixá-lo-ei navegar com o vento do mundo.
— E ele guia-se sozinho?
— Sim — replicou Gued, gravemente —, desde que se lhe dê as instruções necessárias. Não precisa de muitas. Já andou no alto mar, para lá da mais longínqua ilha da Estrema Leste. E já foi a Selidor, onde Erreth-Akbe morreu, no longínquo Ocidente. É um barco sábio e hábil o meu Vê-longe. Podes confiar nele.
Deitada no barco que se movia magicamente por sobre o grande abismo, a rapariga olhava para cima, para o escuro. Toda a sua vida olhara o escuro. Mas esta era uma solidão mais vasta, esta noite no oceano. Para ela, não havia fim. Não havia teto. Continuava, continuava, mesmo para além das estrelas. Não havia Poderes terrenos que a pudessem mover. Existira antes da luz e existiria depois. Existira antes da vida e existiria depois. Prosseguia imutável para além do mal.
No escuro, Tenar falou:
— A pequena ilha, onde te foi dado o talismã, é neste mar?
A voz dele, saindo da escuridão, respondeu:
— Sim. Algures. Para sul, talvez. Não consegui voltar a encontrá-la.
— Eu sei quem ela era, a velha que te deu o anel.
— Sabes?
— Contaram-me a história. Faz parte dos conhecimentos da Primeira Sacerdotisa. Thar contou-me, primeiro quando Kossil também estava junto de nós, depois, mais completa, quando estivemos só as duas. Foi a última vez que falou comigo antes de morrer. Houve uma casa nobre em Hupun que lutou contra a subida ao poder dos Grão-Sacerdotes em Áuabath. O fundador dessa casa era o Rei Thoreg e, entre os tesouros que deixou aos seus descendentes, havia o meio anel que Erreth-Akbe lhe dera.
— É isso realmente que se conta n’O Feito de Erreth-Akbe. Diz… na tua língua, diz: «Quando o anel foi quebrado, metade ficou na mão do Grão-Sacerdote Intáthin e metade na mão do herói. E o Grão-Sacerdote enviou a metade quebrada para o Sem-Nome, para o Antiquíssimo da Terra em Atuan e desceu à escuridão, aos lugares perdidos. Mas Erreth-Akbe pôs a metade quebrada nas mãos da donzela Tiarath, filha do rei sage, dizendo: “Que permaneça na luz, no dote da donzela, que continue nesta terra até que as metades sejam reunidas.” Assim falou o herói antes de partir para ocidente.»
— E assim deve ter passado de filha para filha naquela casa, ao longo de todos os anos. Não estava perdida a metade, como a tua gente pensou. Mas quando os Grão-Sacerdotes se fizeram a si próprios Reis-Sacerdotes e depois, quando os Reis-Sacerdotes criaram o Império e começaram a chamar a si próprios Reis-Deuses, durante todo esse tempo a casa de Thoreg ia-se tornando cada vez mais pobre e mais fraca. E por fim, segundo Thar me contou, só restavam dois seres da linhagem de Thoreg, crianças ainda, um rapaz e uma rapariga. O Rei-Deus em Áuabath era então o pai daquele que governa agora. Mandou roubar as crianças do seu palácio em Hupun. Havia a profecia de que um dos descendentes de Thoreg de Hupun havia de provocar um dia a queda do Império e isso assustou-o. Mandou então raptar as duas crianças e levá-las para uma ilha deserta, algures no meio do mar, e que ali fossem deixadas sem nada para além das roupas que usassem e um pouco de comida. Temia matá-las pelo punhal, pela corda ou pelo veneno. Eram de sangue real e o assassinato de reis acarreta uma maldição, mesmo sobre os deuses. Os seus nomes eram Ensar e Anthil. Foi Anthil quem te deu a metade do anel quebrado.
Gued permaneceu silencioso por longo tempo. Por fim, disse:
— E finalmente a história fica completa, tal como o anel ficou completo. Mas é uma história cruel, Tenar. As crianças, aquela ilha, os dois velhos que eu vi… Quase não sabiam fala humana alguma.
— Queria pedir-te uma coisa.
— Pede.
— Eu não quero ir para as Terras Interiores, para Havnor. Não pertenço aí, a essas grandes cidades e entre gente desconhecida. Não pertenço a terra nenhuma. Traí o meu próprio povo. Não tenho povo. E fiz uma coisa muito má. Põe-me sozinha numa ilha, como os filhos do rei foram deixados, numa ilha isolada onde não haja gente, onde não haja ninguém. Deixa-me e leva o anel para Havnor. É teu, não meu. Não tem nada a ver comigo. E a tua gente também não. Deixa-me sozinha!
Lentamente, gradualmente, mas mesmo assim sobressaltando-a, uma luz apareceu como o nascer da Lua no negrume à sua frente, a luz de feitiço que surgia quando ele ordenava. Aderia à extremidade do bordão que ele segurava na vertical, sentado à proa, virado para ela. Iluminava a base da vela e a amurada do barco e as tábuas e o rosto do homem com um clarão prateado. Gued olhava diretamente para ela.
— Que mal fizeste tu, Tenar?
— Ordenei que três homens fossem encerrados numa câmara, por baixo do Trono, e deixados morrer à fome. Morreram de fome e de sede. Morreram e estão lá enterrados, no Subtúmulo. As Pedras Tumulares caíram sobre as suas sepulturas.
E a rapariga interrompeu-se.
— Há mais ainda?
— Manane.
— Essa morte pesa sobre a minha alma.
— Não. Ele morreu porque me amava e foi fiel. Pensou que estava a proteger-me. Foi ele que susteve a espada acima do meu pescoço. Quando eu era pequena, ele era bom para mim… quando eu chorava…
Voltou a silenciar-se porque as lágrimas lhe queriam chegar aos olhos, violentas. E contudo, ela não iria chorar. As suas mãos estavam apertadas nas dobras negras do seu vestido.
— Nunca fui boa para ele — continuou. — Não irei para Havnor. Não irei contigo. Encontra alguma ilha onde ninguém vá, põe-me lá e deixa-me. O mal tem de ser pago. Eu não sou livre.
A luz suave, acinzentada pela névoa marítima, brilhava no meio deles.
— Ouve, Tenar. Atende-me. Tu eras o receptáculo do mal. O mal foi deitado fora. Acabou. Está enterrado no seu próprio túmulo. Tu não tinhas sido feita para a crueldade e para a sombra. Tu tinhas sido feita para guardar a luz, tal como uma lâmpada acesa guarda e dá a sua luz. Eu encontrei a lâmpada por acender. Não vou deixá-la numa qualquer ilha deserta, como uma coisa que se achou e deitou fora. Levar-te-ei até Havnor e direi aos príncipes de Terramar: «Vejam! No lugar da escuridão, encontrei a luz, o espírito dela. Através dela, um mal antigo foi reduzido a nada. Através dela, pude sair da sepultura. Através dela, o que estava quebrado foi tornado inteiro e, onde havia ódio, haverá paz.»
— Não irei — insistiu Tenar numa agonia. — Não posso. Não é verdade!
— E depois disso — prosseguiu ele, suavemente —, levar-te-ei para longe dos príncipes e dos ricos senhores, porque é verdade que não há ali lugar para ti. És demasiado jovem e demasiado sábia. Levar-te-ei para a minha própria terra, para Gont, onde nasci, até junto do meu velho mestre Óguion. Ele é um velho agora, um muito grande Mago e um homem de coração paciente. Chamam-lhe «o Silencioso». Vive numa pequena casa nas grandes falésias de Re Albi, muito acima do mar. Tem algumas cabras e uma pequena horta. No Outono, vagueia por toda a ilha, sozinho, nas florestas ou nas encostas das montanhas, através dos vales dos rios. Em tempos vivi ali com ele, era eu mais novo que tu és agora. Não fiquei muito tempo, não tive o bom senso de ficar. Parti em busca do mal e não há dúvida de que o encontrei… Mas tu vens a fugir ao mal, em busca de liberdade. Em busca de silêncio por algum tempo, até que encontres o teu próprio caminho. Lá, junto dele, encontrarás bondade e silêncio, Tenar. Aí a lâmpada poderá, por algum tempo, arder ao abrigo do vento. Farás isso?
A névoa marinha passava cinzenta entre os rostos de ambos. O barco erguia-se levemente sobre as longas vagas. Ao redor deles havia a noite, sob eles o mar.
— Farei — acedeu ela com um longo suspiro. E, muito tempo depois: — Ah! Quem me dera que fosse mais breve… que pudesse ir já…
— Não faltará muito, pequenina.
— E alguma vez lá irás?
— Quando puder, irei.
A luz extinguira-se e, ao redor deles, tudo era escuridão.
Chegaram, depois das alvoradas e dos crepúsculos, dos dias calmos e dos ventos gelados, ao Mar Interior. Navegaram pelos canais apinhados, por entre grandes navios, subindo os Estreitos de Ebavnor, entrando na baía que jaz fechada no coração de Havnor e, através da baía, até ao Grande Porto de Havnor. Viram as brancas torres e toda a cidade branca e radiosa sob a neve. As coberturas das pontes e os telhados vermelhos das casas estavam cobertos de neve e o cordame dos cem navios fundeados no porto de abrigo cintilava de gelo sob o sol de Inverno. Notícia da sua chegada adiantara-se a eles, porque a remendada vela vermelha do Vê-longe era bem conhecida naqueles mares. Uma grande multidão se reunira nos cais cheios de neve e pendões coloridos ondulavam e batiam sob o vento vivo e frio.
Ereta, Tenar vinha sentada à proa no seu esfarrapado manto de tecido negro. Olhou o anel ao redor do pulso e depois para a costa de muitas cores, apinhada de gente, para os palácios e para as altas torres. Ergueu a mão direita e o sol refletiu-se, lançando um clarão, na prata do anel. Ergueu-se um clamor, alegre e disperso no vento, por sobre a água inquieta. Gued atracou o barco. Cem mãos se estenderam a colher a corda que ele lançara em direção aos cabeços de amarração. Saltou depois para o cais e, voltando-se, estendeu a mão para ela, dizendo:
— Vem!
E ela ergueu-se e juntou-se a ele no cais. Gravemente, caminhou a seu lado, subindo as brancas ruas de Havnor, segurando-lhe a mão, como uma criança regressando a casa.
FICHA TÉCNICA
Título: The Tombs of Atuan
Autora: Ursula K. Le Guin
1970, 1971 by Inter-Vivos Trust for the Le Guin Children
Tradução: Carlos Grifo Babo
Capa: Lupa Design - Danuta Wojciechowska
Composição: Multitipo - Artes Gráficas, Lia.
Impressão e acabamento: Guide - Artes Gráficas, Lda.
1a edição, Lisboa, Maio, 2002
Digitalização: Yuna
Revisão: Sayuri
Supervisão: Sayuri